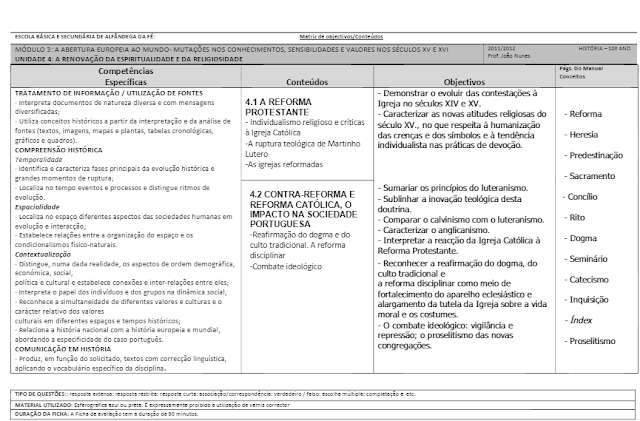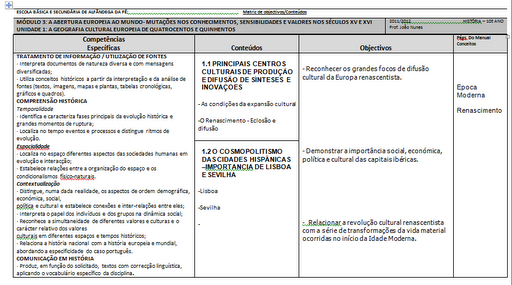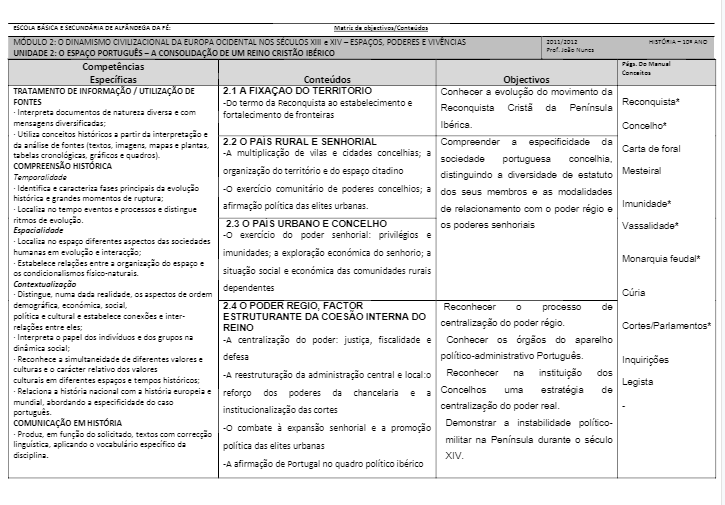Curso Científico - Humanístico Línguas e Humanidades--- Marc Bloch define a História como a “Ciência dos homens, no tempo” uma vez que estuda os homens, sua produção e suas relações sociais, políticas, económicas e culturais num determinado espaço e tempo.
domingo, 16 de outubro de 2011
MATRIZ DA FICHA: MÓDULO 3: UNIDADE 3: A PRODUÇÃO CULTURAL
domingo, 9 de outubro de 2011
ARQUEOLOGIA
Arqueologia (cuja origem etimológica vem de arqueo, antigo e lógos, estudo) é uma ciência social que estuda as sociedades, podendo ser tanto as que ainda existem, quanto as atualmente extintas, através de seus restos materiais, sejam estes objectos móveis (como por exemplo objecto de arte, como as vénus) ou objectos imóveis (como é o caso de estruturas arquitectónicas). Também se incluem as intervenções no meio ambiente efetuadas pelo homem.
A maioria dos primeiros arqueólogos, que aplicaram a sua disciplina aos estudos das antiguidades, definiram a arqueologia como o "estudo sistemático dos restos materiais da vida humana já desaparecida". Outros arqueólogos enfatizaram aspectos psicológico-comportamentais e definiram a arqueologia como "a reconstrução da vida dos povos antigos".
Em alguns países a arqueologia é considerada como uma disciplina pertencente à antropologia; enquanto esta se centra no estudo das culturas humanas, a arqueologia dedica-se ao estudo das manifestações materiais destas. Deste modo, enquanto as antigas gerações de arqueólogos estudavam um antigo instrumento de cerâmica como um elemento cronológico que ajudaria a pôr-lhe uma data à cultura que era objeto de estudo, ou simplesmente como um objeto com um verdadeiro valor estético, os antropólogos veriam o mesmo objecto como um instrumento que lhes serviria para compreender o pensamento, os valores e a própria sociedade a que pertenceram.
A maioria dos primeiros arqueólogos, que aplicaram a sua disciplina aos estudos das antiguidades, definiram a arqueologia como o "estudo sistemático dos restos materiais da vida humana já desaparecida". Outros arqueólogos enfatizaram aspectos psicológico-comportamentais e definiram a arqueologia como "a reconstrução da vida dos povos antigos".
Em alguns países a arqueologia é considerada como uma disciplina pertencente à antropologia; enquanto esta se centra no estudo das culturas humanas, a arqueologia dedica-se ao estudo das manifestações materiais destas. Deste modo, enquanto as antigas gerações de arqueólogos estudavam um antigo instrumento de cerâmica como um elemento cronológico que ajudaria a pôr-lhe uma data à cultura que era objeto de estudo, ou simplesmente como um objeto com um verdadeiro valor estético, os antropólogos veriam o mesmo objecto como um instrumento que lhes serviria para compreender o pensamento, os valores e a própria sociedade a que pertenceram.
PALEONTOLOGIA
Perspetiva histórica
A Paleontologia é a ciência que estuda os seres vivos antigos, isto é, os animais e plantas que viveram em épocas passadas da História da Terra e que hoje se encontram na forma fóssil. É uma ciência em que a Biologia e a Geologia se interrelacionam, já que, sendo essencialmente uma ciência biológica, necessita do auxilio da Geologia e constitui-se como um elemento fundamental dos estudos geológicos, especialmente da Geologia Histórica.Desde os tempos da Antiguidade Clássica que vários sábios se interrogaram e interessaram acerca da natureza dos fósseis. Desde Pitágoras (séc. VI a. C.), Xantos de Sardes, Heródoto (séc. V a. C.), Aristóteles e Teofrastos (séc. IV a. C.), todos da Grécia, passando Lucrécio, Ovidio, Plínio o Antigo, estes em Roma, a Roger Bacon, Boccacio e Alberto de Saxe, estes já na Idade Média, e no Renascimento, Bernard Palissy e Leonardo da Vinci, vários foram os homens de grande saber que procuraram conhecer a origem dos fósseis. Mas só em finais do século XVIII é que se terá consciência da sucessão de seres distribuídos por várias épocas ao longo dos tempos antigos, ou da diferença de faunas segundo a antiguidade das camadas estratigráficas sedimentares (paleontologia estratigráfica). Estas noções começaram a ser estudadas por William Smith em Inglaterra e Brocchi em Itália, além de Alexandre Brongniart em França. Antes, todavia, Buffon tinha já defendido o princípio da evolução dos seres vivos, explicando assim as suas diferenças e a sua continuidade ao longo das eras geológicas.
Mas cientistas houve que duvidaram desta teoria evolucionista de Buffon, como Cuvier (1769-1832) o fundador da anatomia comparada dos fósseis vertebrados, explicando a renovação das espécies faunísticas através de cataclismos, aquilo a que chamou as "revoluções do globo". Lamarck (1744-1829) e Saint-Hilaire (1772-1844) defenderam também o princípio da evolução das espécies, que só com Charles Darwin (1809-1882), na Origem das Espécies pela Via da Seleção Natural (1859), conseguiria o devido reconhecimento científico.
Desde então, a paleontologia tem-se tornado cada vez mais numa ciência biológica, estudando não apenas a sistemática dos fósseis como também a sua ecologia a sua repartição espácio-temporal, enfim, a sua evolução.
Divisões da Paleontologia
Esta disciplina científica pode dividir-se em Paleozoologia ou Zoopaleontologia, que estuda os fósseis animais, e Fitopaleontologia, que estuda os fósseis vegetais. Podem ainda considerar-se como divisões da Paleontologia a Paleontologia Humana e a Micropaleontologia, que estuda os fósseis microscópicos, sobretudo os protozoários e especialmente os foraminíferos. A Micropaleontologia adquiriu recentemente um grande desenvolvimento como auxiliar da Geologia do Petróleo, permitindo estudar a idade das formações atravessadas pelas sondagens de prospeção de petróleo.
A Palinologia estuda os grãos de pólen e os esporos fósseis, principalmente nos jazigos carboníferos e nas turfeiras terciárias e quaternárias. Neste último caso, os estudos palinológicos são de grande utilidade para determinar as alterações climáticas ocorridas nos períodos glaciários e interglaciários.
A paleontologia compreende atualmente quatro grandes divisões: a paleontologia vegetal (ou paleobotânica), a paleontologia animal (ou paleozoologia), a micropaleontologia (estudo de microfósseis ou microvestígios) e a paleontologia humana. A paleoecologia (ciência que estuda o modo de vida dos seres vivos que desapareceram até aos nossos dias e as relações que tinham com o seu meio envolvente), a paleoclimatologia (estudo dos climas antigos) e a paleobiogeografia (ramo da paleontologia que estuda a repartição geográfica dos seres vivos fora das diferentes épocas geológicas) são algumas das principais disciplinas especializadas da paleontologia.
Paleontologia animal. Sabe-se que a Terra existe já há vários biliões de anos, e que durante muito tempo as únicas formas de vida existentes eram simples algas azuis e bactérias primitivas. Os vestígios mais antigos de vida animal apareceram apenas no fim do Proterozoico, há cerca de 650 milhões de anos, sob a forma de invertebrados. Os primeiros vertebrados surgiram apenas no Câmbrico Superior, na forma de peixes sem mandíbulas. No Silúrico, alguns artrópodes abandonaram o meio marinho para povoar os continentes. No Devoniano, a eles se juntaram os peixes com pulmões, os dipneustas, e depois os primeiros anfíbios. Entre os invertebrados, os trilobitas, os braquiópodes e os goniatitas têm um papel significativo no contexto da estratigrafia. Os répteis apareceram no Carbonífero, tendo sido os primeiros vertebrados adaptados à vida fora dos meios aquáticos. É também então o tempo dos insetos gigantes. O Paleozoico terminou no fim do Permiano. Os tempos secundários (ou Mesozoico) foram marcados pelo desenvolvimento dos amonitas, répteis marinhos. Em terra, os répteis evoluíram também e atingiram formas gigantes. Aparecem então os primeiros mamíferos, no Triásico, e os primeiros pássaros no Jurássico. No final do Cretáceo, os amonitas desapareceram dos oceanos, e os sáurios (dinossauros ou dinossáurios) dos continentes. O Terciário foi a era do desenvolvimento dos mamíferos e da evolução das faunas de tipo atual. O Homem, entretanto, apareceu no princípio do Quaternário.
Paleontologia humana. O homem atual, como todos os seres vivos, é o resultado de uma longa evolução como espécie, possuindo uma origem comum com os grandes símios atuais.
Os grandes símios fósseis registaram um período de grande diversificação a partir de há cerca de 15 milhões de anos. Foi ao longo deste período que se individualizou o ramo humano, aquilo que é conhecido como a família dos hominídeos, talvez a partir de há aproximadamente 10 milhões de anos, já no final do Mioceno. Então, já as características humanoides (encurtamento da face, diminuição do tamanho dos caninos, etc.) começaram a aparecer em alguns tipos de grandes primatas, sem que se possa afirmar qual deles é o primeiro antepassado da espécie humana. Os australopitecos, que surgem na África Austral há pelo menos 4 milhões de anos, no fim do Plioceno, constituem os primeiros hominídeos conhecidos. Já com locomoção bípede (parcialmente), mas ainda com uma capacidade craniana reduzida (cerca de 450-500 cm3), subdividiram-se rapidamente em dois grupos: o robustus e o grácil, embora alguns paleontólogos tenham defendido a possibilidade se tratar de machos e fêmeas. Destas formas australopitecídeas terá derivado o género homo, o homo habilis, de maior capacidade craniana e destreza nos membros superiores (habilidade), aparecendo há cerca de dois milhões de anos. Depois apareceu o Homo erectus (pitecantropo-sinantropo), já perfeitamente bipédico (posição ereta), cujo vestígio mais antigo tem cerca de 1, 5 milhões de anos, tendo-se difundido rapidamente na Europa e a Ásia, até ao Extremo Oriente (javantropo). Este homo evoluirá ao longo de 1 milhão de anos, aumentando a sua capacidade craniana (de 750 para 1250 cm3, em média) e diversificando, com a devida complexização e aperfeiçoamento técnico, as suas indústrias líticas. Assim, há aproximadamente 400 000 anos apareciam os primeiros grupos de homo sapiens.
A sua origem geográfica permanece desconhecida, embora se aponte a África e a Ásia como hipóteses mais credíveis. Contudo, a sua ramificação processar-se-á de forma rápida, originando várias subespécies em várias regiões do Velho Mundo, como o Homo sapiens Neandertalensis (o célebre e injustamente mal afamado Homem de Neandertal), que permaneceu na Europa até há cerca de 35 000 anos (ou talvez menos, como provavelmente indica a datação da criança mestiça de Lapedo, Portugal), ou o Homo Sapiens Sapiens, que se terá cruzado e hibridizado com o sapiens anterior (ver o menino de Lapedo) e surgido em várias adaptações regionais, tendo mesmo colonizado o continente americano na última glaciação (há cerca de 40 000 anos, atravessando o estreito de Behring) e também a Austrália. O sapiens sapiens está na origem do homem atual, já que o Neandertalensis se extinguiu.
Esta última espécie foi a que teve a maior capacidade cerebral (c. 1750 cm3, contra c. 1500 do sapiens sapiens), um dos melhores indicadores da evolução biológica humana, paralelamente a uma remodelação progressiva da configuração do crânio e da diminuição do peso da estrutura óssea.
Paleontologia vegetal (ou paleobotânica). Ramo da história natural que estuda as espécies vegetais conservadas pelos diferentes tipos de fossilização. Foi iniciada em França por A. Brongniart (na sua obra Prodrome d´ une histoire dês végétaux fossiles, 1828). Os procedimentos de investigação da paleobotânica variam de acordo com o tipo de fossilização. Esta ciência tem contribuído imenso para o progresso do estudo e classificação das camadas sedimentares, elementos essenciais para o desenvolvimento de outros ramos da paleontologia e das ciências pré-históricas.
Micropaleontologia. Conjunto de disciplinas comuns à paleontologia e à biologia (como a bacteriologia, a virologia, a micologia ou a protistologia) que se ocupam dos vestígios fossilizados de organismos microscópicos e ultramicroscópicos de eras anteriores.
A paleontologia tem também em Portugal um cenário bastante prometedor, se se tiver em conta as descobertas da arqueologia nos últimos anos, desde fósseis vegetais e animais de há mais 100 milhões de anos até aos vestígios de espécies humanas do Paleolítico no território nacional.
MUTAÇÃO
Mutação (história)
A mutação vista desde uma perspetiva histórica é um processo de metamorfose que se opõe à continuidade e implica uma rutura, cisão que se dá na sequência da História e que é irreversível. Esta rutura poderá, segundo as suas características, originar outras conjunturas ou estruturas. Neste conceito entrelaça-se o de crise, uma fase de desequilíbrio que anuncia uma transição para uma situação nova, assim como o de revolução, onde se manifesta uma alteração de grandes proporções em estruturas fundamentais da sociedade, como as culturais, económicas e sociais, alteração esta que redunda numa diferente condição.
HISTÓRIA
A História na Antiguidade
Os autores clássicos, como Heródoto, Tucídides e Políbio entre os gregos, e Tito Lívio e Tácito entre os romanos, como nomes maiores, incluiram o facto histórico dentro das leis imutáveis que comandam a natureza e os seus ritmos, à frente das quais está o ciclo biológico, pelo qual a história é um ciclo sem princípio nem fim transcendental. Caracterizava-se, segundo aqueles pensadores, por ser um facto humano, não dos deuses, e sempre presente. O objeto do conhecimento histórico, apesar de aparentemente se debruçar sobre o indivíduo e as diversas situações circunstanciais que ocorrem no espaço e no tempo, prende-se acima de tudo com as essências permanentes no tempo, sempre sujeitas a um ciclo. Estas essências eram, segundo os autores clássicos, a sua própria cultura em oposição àquilo que designavam de "bárbaros", as pólis, a cidade de Roma e todo o seu império, a "democracia" ateniense, a criação artística, entre outras. Foi entre os clássicos que surgiu o primeiro manual básico para o historiador, com Luciano de Samóstata (122-200), no seu Como Escrever História, em que sublinhava a imparcialidade e a escravidão do historiador à verdade, a clareza do discurso e isenção. A mensagem histórica ganhou acima de tudo, com os gregos e romanos, poder narrativo, já que antes não passava de registos ligados a genealogias reais ou bíblicas ou a atos de governação próprios dos povos pré-clássicos. Já assim faziam os antigos chineses e japoneses.A História na Idade Média
O Cristianismo bipolarizou a história, concebendo duas linhas de projeção, a natural e a sobrenatural, uma tendência aliás que já se desenhava no helenismo tardio e nas correntes bíblicas dos hebreus. No entanto, estas duas projeções dependiam sempre da vontade superior de Deus, o que conferia um sentido transcendental à historiografia de matriz cristã. Este sentido não é completamente percebido pelo homem, mas encaixa-se na fé, ganhando um sentido de história providencial de matriz agostiniana. As principais correntes desta matriz historiográfica são: a bíblica, a patrística (Santo Agostinho, por exemplo, com a sua filosofia da história) e a escolástica, esta já medieval, teorizada e desenvolvida por São Tomás de Aquino. Deus, a Divina Providência, era o grande regulador do devir histórico, da marcha do mundo na patine dos tempos. Da historiografia medieval, cujos géneros maiores são as crónicas, cronicões e as hagiografias. Os autores mais afamados foram Froissart, Comines, Ayala e, em Portugal, Fernão Lopes. A historiografia medieval estava quase sempre regulada por interesses régios ou eclesiásticos, ganhando assim um carácter apologético e laudatório, um pouco como as crónicas dos séculos XVI, XVII e XVIII.
A História depois do Renascimento
No Renascimento, dá-se a laicização da ciência histórica, afastando-se o facto humano da teologia, como fez Dante e Maquiavel e, principalmente Jean Bodin, que deu uma perspetiva muito mais abrangente e plural, num plano empírico e portanto científico, ao conceito e objeto da história, defendendo a sua articulação com outros ramos do conhecimento humano. Para além da redescoberta e imitação dos clássicos, a imprensa será o grande suporte material, a par de um certo enriquecimento dos Estados e o aparecimento de mecenas e protetores abastados. Os descobrimentos de novas terras, a Reforma e a Reforma Católica pós-Trento (1545-1563) serão outros vetores essenciais na evolução da historiografia renascentista e na crescente difusão das suas obras, cada vez em maior número.
Todavia, no século XVII, com Descartes e Bossuet, ressurgirá a tendência providencialista da história, pois aquele autor defendia que é impossível conhecer-se a verdade histórica, ainda que no século XVII outros autores, como Locke e Hobbes, afirmassem que todo o conhecimento provém da experiência. Mas o providencialismo histórico manteve-se como principal corrente mesmo nas Luzes, no século XVIII, embora os historiadores iluministas tenham substituído Deus pela Razão e a salvação espiritual pela natural. Reforçava-se assim o progresso do racionalismo baseado na experiência desde o tempo da barbárie irracional. Montesquieu, no seu L´Esorit des Lois definiu as leis como motoras da história, não na perspetiva legislativa ou do Direito, mas no entendimento do seu funcionamento nos fenómenos físicos ou sociais, cuja causa deve ser encontrada na moral. Vico, na sua Scienza Nuova (1725) recuou perante a tendência racionalista das Luzes e concebeu a história como retorno aos primórdios do Homem e das instituições, reforçando o seu papel criador (a história como ideia do nascimento, crescimento e decadência dos povos).
A História no século XIX
O debate sobre a história era cada vez mais alargado, com os filósofos do século XIX a proporem novas interpretações acerca do processo histórico. As teorias idealistas de Kant, que evidenciou a existência de leis históricas acima das liberdades individuais, ou de Fichte, que baseava a evolução histórica numa ideia única anterior aos acontecimentos, realizável na dialética entre a tese, a antítese e a síntese e missionando o historiador para acima de tudo compreender o presente, foram conjugadas e sintetizadas por Hegel na sua Filosofia da História. Nesta obra, Hegel defende que o único processo histórico é o humano, enquanto projeção das ideias, campo que são da investigação histórica. Os factos, remata, são a única fonte válida para conhecer as ideias do processo histórico. A história depositava com Hegel a sua confiança na objetividade, nos factos enfim. O que forneceu legitimação teórica à corrente positivista da história, em que pontificaram nomes como Ranke. Comte, fundador do positivismo, defendia que história e natureza têm as mesma leis e metodologia, baseada na comparação empírica e na interpretação racional dos dados. A escravidão ao documento, por exemplo, radica no positivismo, que proporcionou a elaboração de uma investigação ampla e rigorosa, principalmente dos factos políticos e ideológicos, surgindo por isso obras de grande erudição e repertórios documentais imensos. A história positiva é, como dizia, Ranke, a exposição objetiva dos factos tal como se produziram. Entre os grandes historiadores positivistas, destacam-se Michelet, Thierry e Thiers.
A História na Época Contemporânea
Mas a reação ao método positivista de abordar a história logo suscitou críticas, principalmente pelos defensores do "eu" subjetivo do historiador ou dos que aplicaram as leis evolucionistas de Darwin ao conhecimento histórico. A história era cada vez mais uma ciência independente em termos metodológicos e filosóficos. Marx, por exemplo, também não deixou de interpretar a história, que considerava como uma evolução dos sistemas de produção e das relações sociais, apontando as desigualdades de repartição da riqueza como geradores de conflitos de relações, o que define o progresso e o curso da humanidade. A conceção de história oscilava, em finais do século XIX, entre o positivismo, o marxismo, as ideias evolucionistas e o individualismo, para além da ideia de ciclo, em que às oito culturas que constituem a história universal se sucedem irreversivelmente três etapas de decadência. O determinismo de Taine marcou também a evolução do conhecimento histórico, preconizando a influência do meio sobre a dos acontecimentos.
A partir dos anos 30, surgem novas teorias, das quais se destaca a de Ortega y Gasset, que defendia que a história é uma cadeia de factos que respondem a uma "razão histórica". A história, reagindo à conceção nacionalista destes "anos de aço", procurava cada vez mais valorizar o aspeto humano, tocar nos valores intangíveis da religião, das tradições, dos sentimentos, das mentalidades. A esfera das relações humanas era um novo campo de estudo da história, graças a figuras como Toynbee e Spengler. Era também o tempo de redescobrir as grandes civilizações da Antiguidade, da procura da interdisciplinaridade.
Mas foi na altura da Segunda Guerra Mundial que a conceção de história ganhou um novo rumo e uma nova metodologia. Foi o tempo de Lucien Febvre, de Marc Bloch e de Fernand Braudel, da escola francesa dos Annales, quando o conceito de história se desvalorizou face à metodologia. A história dos Annales tornou a história uma ciência social, interessada em fontes indiretas e imateriais, rechaçando o positivismo. O estruturalismo desenvolvido na antropologia por Claude Lévi-Strauss era então importado pela "Nova História" dos Annales, permitindo aos historiadores problematizar de forma mais coerente as estruras inerentes às sociedades. Os acontecimentos concretos, fugazes e de curta duração, não se podem observar diretamente, o que se pode fazer nos de longa duração, pois os aspetos essenciais reproduzem-se no tempo. Era o triunfo do homem, do social, do facto humano na sua totalidade. Desde o século XIX, entretanto, desenvolvia-se a história económica, de importância crucial para a compreensão dos acontecimentos sociais e políticos. Atualmente, desenvolvem-se novos campos do saber histórico, como o da cultura, da religião, das mentalidades, dos fenómenos marginais e maravilhosos, dos temas, enfim, ligados ao homem mas tradicionalmente afastados dos trabalhos de pesquisa histórica. Há, acima de tudo, uma cada vez maior aproximação da história a outras ciências (paleografia, epigrafia, numismática, estatística, biologia, medicina, heráldica, sociologia, antropologia, filosofia, arqueologia, história da arte, geologia, economia, etc.) e às diversas técnicas e tecnologias, o que perspetiva uma melhor abordagem do objeto desta velha ciência filha de Clio (musa da história) e uma melhor compreensão da evolução humana no tempo e no espaço.
Períodos da História
Um outro aspeto ligado à história é o da discutível divisão cronológica, cujas fronteiras são difíceis de definir. No entanto, a periodização da história é uma realidade. Assim, temos, a Pré-História, a Antiguidade Pré-Clássica e a Clássica, a Idade Média (Alta, Média e Baixa, para os mais puristas), a Época Moderna e a Contemporânea, falando-se já na Pós-Moderna.
GENEALOGIA
A genealogia é uma ciência auxiliar da história que estuda a origem, evolução e disseminação das famílias e respectivos sobrenomes ou apelidos.
A definição mais abrangente é "estudo do parentesco". Como ciência auxiliar, desenvolve-se no âmbito da "História de Família", onde é a peça fundamental subsidiada por outras ciências, como a sociologia, a economia, a história da arte ou o direito.
É também conhecida como "ciência da História da Família" pois tem como objetivo desvendar as origens das pessoas e famílias por intermédio do levantamento sistemático de seus antepassados, locais onde nasceram e viveram e seus relacionamentos interfamiliares.
Tal levantamento pode ser estendido aos descendentes como aos ascendentes de uma determinada figura histórica sendo muitas vezes difícil classificar os nomes de família por causa das mudanças de ortografia e pronúncia com o passar do tempo. Várias palavras antigas tinham significados diferentes na época, ou hoje em dia não são mais usadas. Muitos nomes de família dependeram da competência e discrição de quem os fez no ato do registo.
Árvore genealógica
É um registo diagramático, em forma de um tronco com ramos, de uma família, grupo ou indivíduo a partir de um antecessor.
A definição mais abrangente é "estudo do parentesco". Como ciência auxiliar, desenvolve-se no âmbito da "História de Família", onde é a peça fundamental subsidiada por outras ciências, como a sociologia, a economia, a história da arte ou o direito.
É também conhecida como "ciência da História da Família" pois tem como objetivo desvendar as origens das pessoas e famílias por intermédio do levantamento sistemático de seus antepassados, locais onde nasceram e viveram e seus relacionamentos interfamiliares.
Tal levantamento pode ser estendido aos descendentes como aos ascendentes de uma determinada figura histórica sendo muitas vezes difícil classificar os nomes de família por causa das mudanças de ortografia e pronúncia com o passar do tempo. Várias palavras antigas tinham significados diferentes na época, ou hoje em dia não são mais usadas. Muitos nomes de família dependeram da competência e discrição de quem os fez no ato do registo.
Árvore genealógica
É um registo diagramático, em forma de um tronco com ramos, de uma família, grupo ou indivíduo a partir de um antecessor.
ANÁLISE QUALITATIVA
A expressão é correntemente utilizada nas Ciências Sociais, particularmente entre a Antropologia e a Sociologia, e refere-se a um conjunto de técnicas de investigação como a observação participante e as entrevistas, não-estruturadas, isto é, livres, em que o entrevistador vai desenvolvendo as conversações com os seus informantes sobre determinada temática de uma forma espontânea, sem a fixação prévia de quaisquer questões, e semiestruturadas, as que obedecem a um guião mínimo em torno do qual todos os informantes são inquiridos. A análise qualitativa fundamenta a investigação, poder-se-á afirmar, em dois sentidos: permite ajustar as expectativas que os investigadores têm sobre determinado problema social à sua realidade, o que vulgarmente se designa por corte com o senso comum, e apreender mais de perto determinadas realidades sociais que outras técnicas de investigação não permitem, como as que derivam da análise quantitativa; por outro lado, após se identificarem por comparação comportamentos distintos entre grupos sociais, e essa comparação ocorre por quantificação, permite conhecer em maior profundidade esses comportamentos e as diferenças manifestas no interior de cada um dos grupos identificados.
RUTURA
A rutura é um corte irreversível na continuidade histórica, que se pode tornar terreno fértil para a geração de novas conjunturas e estruturas, dependendo das características da rutura. A sua essência faz com que seja exatamente oposta à continuidade, no âmbito da terminologia da História. A este conceito está estreitamente associado o de revolução, uma vez que implica mudança para uma nova situação, assim como o de crise que, apesar de poder ser menos drástica, acaba usualmente por marcar uma fase de transição.
FORAL
Os forais eram diplomas concedidos pelo rei e por outros senhorios laicos ou religiosos, contendo normas disciplinadoras das relações dos habitantes entre si e a identidade outorgante. Os primeiros forais foram atribuídos com o intuito de povoar e atrair mão de obra a determinados locais. As dimensões e o conteúdo dos forais eram variáveis, por eles estabeleciam-se as liberdades e garantias das pessoas e bens dos povoadores, impunham-se impostos e tributos, definiam-se as multas devidas pelos delitos e contravenções, estipulava-se o serviço militar e os encargos a privilégios dos cavaleiros-vilãos, determinava-se o aproveitamento de terrenos comuns, etc. As cartas de foral (forais) eram essencialmente normas de Direito público; o Direito privado continuava a reger-se pelo costume. Os concessionários do foral recebiam a terra a título definitivo e hereditário, podendo aliená-la após algum tempo de residência obrigatória. Gama Barros estabeleceu uma diferença entre dois tipos de forais: os dos senhorios particulares e eclesiásticos, que têm subjacente uma relação enfitêutica; e os do rei, que em geral preveem a obrigação de residência. Após o fortalecimento do poder do rei, os forais começaram a declinar, a legislação geral começou a uniformizar a jurisprudência. Com D. Manuel I procedeu-se a uma reforma dos forais que, a partir deste período, passaram a ser meros registos de isenções e encargos locais. No período liberal, mais concretamente entre 1810 e 1832, dão-se várias reformas feitas de avanços e recuos consoante a evolução política. A 13 de agosto de 1832, um decreto de Mouzinho da Silveira elimina radicalmente todos os encargos sobre bens nacionais que derivassem de forais ou contratos enfitêuticos.
DOCUMENTOS
O Código Civil (no art. 362.º) define documento como qualquer objeto elaborado pelo homem com o fim de reproduzir ou representar uma pessoa, coisa ou facto.
Existem duas modalidades de documentos, os escritos e as reproduções mecânicas.Os documentos escritos podem ser particulares ou autênticos, sendo estes últimos documentos exarados pelas autoridades públicas, dentro da sua competência ou circulo de atividade, pelo notário ou outro oficial público, segundo o art. 363.º n.º 2 do Código Civil, sendo que, todos os outros são documentos particulares.
A autenticidade destes documentos reside na competência da autoridade pública que os exara e no formalismo que estes revestem, sendo-lhes atribuído um valor probatório pleno, uma vez que os documentos autênticos fazem prova plena dos factos que nele foram atestados pela autoridade pública, sendo que, esta prova só pode ser ilidida com base na falsidade. Este documento será falso se nele se atestarem factos que não foram praticados pela autoridade pública que o exarou.
Todos os outros documentos que não sejam autênticos, são documentos particulares que devem ser assinados pelo seu autor, ou por outrem a seu rogo no caso do rogante não saber ou não puder assinar. Este documento não faz prova da sua veracidade, não prova a genuinidade da sua proveniência. A letra e a assinatura de um documento particular consideram-se verdadeiras, quando são reconhecidas pela outra parte contra quem são apresentadas como verdadeiras ou quando são judicialmente reconhecidas como tal.
Além de tudo, os documentos escritos podem ser originais ou reproduções, como exemplo das reproduções podemos falar das certidões que são extraídas de documentos arquivados em repartições públicas que quando são expedidas pelo depositário público autorizado para tal, têm a força probatória dos seu originais.
Mas também são consideradas documentos as reproduções cinematográficas que captam cenas e reproduzem imagens de acontecimentos passados, assim como as reproduções fotográficas que captam a imagem de pessoas ou de coisas ou ainda as cassetes áudio que reproduzem conversas ou discussões, porque deste modo se reproduzem ou representam uma pessoa, coisa ou facto.
As reproduções fotográficas ou cinematográficas e os registos fonográficos fazem prova plena dos factos e das coisas que representam logo que a parte contra a qual são apresentados não impugne a sua exatidão.
FONTES HISTÓRICAS
Um dos repositórios mais importantes de fontes escritas e iconográficas são os arquivos, apesar da organização de muitos deles se ter prendido com os conceitos que a época de estruturação dos mesmos preconizava, verificando-se casos em que documentos atualmente considerados importantes foram relegados. Estes arquivos compreendem testemunhos tão variados como documentos demográficos, económicos e fiscais, cartulários, autos notariais, índices estatísticos e muitos outros.
No âmbito da iconografia, podemos identificar sumariamente duas vertentes: a pagã/profana/civil, que trata dos mais variados assuntos, desde temas mitológicos (A fonte da juventude, de Lucas Cranach, o Velho, O triunfo de Vénus, de Francesco del Cossa) a retratos de personagens marcantes e de cenas históricas (A coroação de Napoleão I, de Jacques-Louis David, O massacre de Taillebourg, de Eugène Delacroix, O cardeal Guido Bentivoglio, de Anthonis van Dyck); a religiosa, que abarca uma variedade imensa de temas, desde a criação do mundo a retratos de personagens de alguma forma relevantes.
Reveste-se de grande importância o legado oral, que costuma referir-se a um círculo mais tradicional e menos elitista, onde a maioria das pessoas não tinha instrução nem outra forma de transmitir conhecimentos. Em última instância, foi esta a forma de transmissão histórica até o ser humano o plasmar cada vez mais frequentemente em suportes físicos. Deste tipo de fonte, com representantes tão proeminentes como os aedos gregos, os jograis e os contadores de histórias, constam lendas e estórias (muitas delas mais tarde passadas a papel), assim como canções e outro tipo de música, geralmente de cariz popular.
São ainda de extrema importância os monumentos de toda a classe, desde mono e megálitos do início da história do Homem à arquitetura religiosa, dedicada às diversas divindades cultuadas pelos diferentes povos e civilizações e à civil, que compreende toda a construção efetuada para o serviço de um povo (aquedutos, canalizações, barragens, túneis, estradas, etc.) e homenagem àqueles que se destacaram entre ele (estátuas e construções de tributo a uma pessoa ou conjunto de pessoas).
Finalmente, e onde vivem e se implantam os homens e toda a produção de que temos vindo a falar, lembremos a Natureza e os seus componentes, que através do seu estado intocado ou pelas alterações nela efetuadas, são fortes indicadores das ações humanas. Assim, poder-se-á encontrar respostas para perguntas como: porque decidiu uma determinada comunidade construir um núcleo urbano junto a uma zona litoral ou a um eixo viário? Porque situar um castelo numa zona elevada? Porque ficaram intocadas algumas zonas paisagísticas? Qual a razão de escolha de um determinado padrão de cultura dos campos?
Existem estruturas museológicas, denominas ecomuseus, que visam, em última instância e com o objetivo de preservar a autenticidade do meio natural em que o Homem vive e de que forma vive, resguardar testemunhos da alteração e do avanço inexoráveis das ciAs fontes compreendem todo e qualquer documento, dos mais diversos tipos, que detenha algum valor para a reconstituição do passado e dos modos de vida das várias culturas, povos e civilizações. Estes documentos ou fontes podem estar sobre diversos suportes, desde o iconográfico (mapas, desenhos, pinturas, esculturas) ao oral (lendas, cantigas), ao escrito (livros, cartas, diários, epigrafia), ao monumental (monumentos) e ao natural e paisagístico. As fontes dividem-se em primárias, que são testemunhos em primeira-mão - contados pelo próprio e legados de forma intencional ou não - e secundárias, que derivam da observação e estudo das fontes primárias e são portanto menos autênticas, uma vez que comportam um juízo elaborado por um ou mais intermediários.
No âmbito da iconografia, podemos identificar sumariamente duas vertentes: a pagã/profana/civil, que trata dos mais variados assuntos, desde temas mitológicos (A fonte da juventude, de Lucas Cranach, o Velho, O triunfo de Vénus, de Francesco del Cossa) a retratos de personagens marcantes e de cenas históricas (A coroação de Napoleão I, de Jacques-Louis David, O massacre de Taillebourg, de Eugène Delacroix, O cardeal Guido Bentivoglio, de Anthonis van Dyck); a religiosa, que abarca uma variedade imensa de temas, desde a criação do mundo a retratos de personagens de alguma forma relevantes.
Reveste-se de grande importância o legado oral, que costuma referir-se a um círculo mais tradicional e menos elitista, onde a maioria das pessoas não tinha instrução nem outra forma de transmitir conhecimentos. Em última instância, foi esta a forma de transmissão histórica até o ser humano o plasmar cada vez mais frequentemente em suportes físicos. Deste tipo de fonte, com representantes tão proeminentes como os aedos gregos, os jograis e os contadores de histórias, constam lendas e estórias (muitas delas mais tarde passadas a papel), assim como canções e outro tipo de música, geralmente de cariz popular.
São ainda de extrema importância os monumentos de toda a classe, desde mono e megálitos do início da história do Homem à arquitetura religiosa, dedicada às diversas divindades cultuadas pelos diferentes povos e civilizações e à civil, que compreende toda a construção efetuada para o serviço de um povo (aquedutos, canalizações, barragens, túneis, estradas, etc.) e homenagem àqueles que se destacaram entre ele (estátuas e construções de tributo a uma pessoa ou conjunto de pessoas).
Finalmente, e onde vivem e se implantam os homens e toda a produção de que temos vindo a falar, lembremos a Natureza e os seus componentes, que através do seu estado intocado ou pelas alterações nela efetuadas, são fortes indicadores das ações humanas. Assim, poder-se-á encontrar respostas para perguntas como: porque decidiu uma determinada comunidade construir um núcleo urbano junto a uma zona litoral ou a um eixo viário? Porque situar um castelo numa zona elevada? Porque ficaram intocadas algumas zonas paisagísticas? Qual a razão de escolha de um determinado padrão de cultura dos campos?
Existem estruturas museológicas, denominas ecomuseus, que visam, em última instância e com o objetivo de preservar a autenticidade do meio natural em que o Homem vive e de que forma vive, resguardar testemunhos da alteração e do avanço inexoráveis das ciAs fontes compreendem todo e qualquer documento, dos mais diversos tipos, que detenha algum valor para a reconstituição do passado e dos modos de vida das várias culturas, povos e civilizações. Estes documentos ou fontes podem estar sobre diversos suportes, desde o iconográfico (mapas, desenhos, pinturas, esculturas) ao oral (lendas, cantigas), ao escrito (livros, cartas, diários, epigrafia), ao monumental (monumentos) e ao natural e paisagístico. As fontes dividem-se em primárias, que são testemunhos em primeira-mão - contados pelo próprio e legados de forma intencional ou não - e secundárias, que derivam da observação e estudo das fontes primárias e são portanto menos autênticas, uma vez que comportam um juízo elaborado por um ou mais intermediários.
quarta-feira, 5 de outubro de 2011
domingo, 2 de outubro de 2011
MOSTEIRO
Mosteiro
Em princípio, apenas as casas religiosas habitadas por monges ou monjas deverão ter direito a esta denominação. Todavia, as casas habitadas por cónegos regulares (ou regrantes) são também designadas por mosteiros. Na Idade Média e mesmo ainda até ao fim do Barroco, além de nos nossos dias por abuso e erro, chamava-se mosteiro às casas de frades (das Ordens Mendicantes, como Franciscanos, Dominicanos, Carmelitas, Agostinhos), que são, mais corretamente, conventos. A documentação referia-se sempre a todas as comunidades religiosas como habitando em mosteiros. Assim, o mosteiro tinha uma conotação de ordem física e material, como se fosse o espaço construído e habitável destinado a religiosos. O mosteiro, no entanto, pela sua etimologia e antiguidade, não da palavra em si, mas do conceito, aplica-se à casa onde habitam monges e monjas, para além dos cónegos regulares (como os de Santa Cruz de Coimbra). Os ramos femininos das Ordens Mendicantes (de frades) são compostos por comunidades de monjas de clausuras, pelo que, ao contrário dos correspondentes ramos masculinos das suas ordens, habitam também em mosteiros, onde melhor poderão professar em clausura e silêncio, sem contacto com o mundo, como sucede nos conventos. De acordo com a sua autonomia, um mosteiro pode ter o estatuto de abadia (se governado por abade ou abadessa) ou de priorado (quando ainda não atingiu o estatuto de abadia e é ainda governado por um prior, embora no caso dos cónegos regulares, por exemplo, ou de certos ramos femininos de monjas da Ordens Mendicantes, sejam sempre governados por priores ou prioressas)
Em princípio, apenas as casas religiosas habitadas por monges ou monjas deverão ter direito a esta denominação. Todavia, as casas habitadas por cónegos regulares (ou regrantes) são também designadas por mosteiros. Na Idade Média e mesmo ainda até ao fim do Barroco, além de nos nossos dias por abuso e erro, chamava-se mosteiro às casas de frades (das Ordens Mendicantes, como Franciscanos, Dominicanos, Carmelitas, Agostinhos), que são, mais corretamente, conventos. A documentação referia-se sempre a todas as comunidades religiosas como habitando em mosteiros. Assim, o mosteiro tinha uma conotação de ordem física e material, como se fosse o espaço construído e habitável destinado a religiosos. O mosteiro, no entanto, pela sua etimologia e antiguidade, não da palavra em si, mas do conceito, aplica-se à casa onde habitam monges e monjas, para além dos cónegos regulares (como os de Santa Cruz de Coimbra). Os ramos femininos das Ordens Mendicantes (de frades) são compostos por comunidades de monjas de clausuras, pelo que, ao contrário dos correspondentes ramos masculinos das suas ordens, habitam também em mosteiros, onde melhor poderão professar em clausura e silêncio, sem contacto com o mundo, como sucede nos conventos. De acordo com a sua autonomia, um mosteiro pode ter o estatuto de abadia (se governado por abade ou abadessa) ou de priorado (quando ainda não atingiu o estatuto de abadia e é ainda governado por um prior, embora no caso dos cónegos regulares, por exemplo, ou de certos ramos femininos de monjas da Ordens Mendicantes, sejam sempre governados por priores ou prioressas)
Assim que surgiram as primeiras comunidades religiosas, a casa onde viviam em comum vários "solitários" (os monges, do grego monachos, "só", "único", donde monadzein, "viver só") passou a designar-se monasterion, que em latim se chamava monasterium. O primeiro mosteiro assim conhecido foi fundado por S. Pacómio c. 320. S. Atanásio criou depois vários mosteiros em Roma no ano de 341. O primeiro mosteiro para cá dos Alpes foi fundado em 375, em Ligugé, próximo de Poitiers (França), por S. Martinho de Tours.
O mosteiro encerra um conjunto de estruturas para habitação e oração para os monges/monjas. A igreja é o elemento definidor e orientador da edificação das construções num mosteiro e de todo o seu conjunto, pois a obrigação aos monges da frequência diária e regular do ofício divino assim o impõe. Além da missa conventual (este termo significa, neste sentido, "da comunidade", do latim conventus, "assembleia", "reunião"), por dia realizavam-se nove ofícios. Além da igreja, ocupa também uma posição estruturadora importante, não apenas fisicamente mas também do ponto de vista espiritual e comunitário, o claustro (podem ser um, por vezes dois e às vezes três ou até mais), que se abre para um jardim, onde por vezes existe uma fonte ou lavabos em frente ao refeitório. Em torno do claustro, dispõem-se galerias cobertas e colunadas, nas quais se encontram acessos às funcionalidades e serviços do mosteiro (sala do capítulo, refeitório, parlatório, dormitório, cozinhas?). O dormitório, uma das áreas comunitárias mais relevantes no mosteiro, está colocado perto da igreja, no primeiro andar, situação que se começou a verificar a partir do século XII, época de reformas monásticas. Assim junto à igreja, através de uma escadaria os monges teriam mais rápido e cómodo acesso à mesma para o ofício noturno, as matinas. A partir de fins do século XIX ? já antes em muitos mosteiros ? os dormitórios passaram a ser substituídos na totalidade pelas celas, apenas ficando naqueles maiores espaços os mais novos. O capítulo, ou sala do c., a dar para o claustro, era o lugar onde os monges, todos os dias depois do ofício de Prima (hora prima) se reuniam para ouvir a leitura de um capítulo da Regra de S. Bento (capitulum), de onde recebeu o nome. É também o lugar de reunião da comunidade, para eleições e para distribuição sazonal ou diária das tarefas e ofícios do mosteiro. Aí também se faz o "capítulo das culpas", onde cada monge se "confessa" a toda a comunidade reunida. Existem também a enfermaria e o calefatório, ou sala de aquecimento.
Os mosteiros também se notabilizaram pela existência de funções específicas da condição de vida monástica, como os scriptoriae (do latim scriptor, "o que escreve"), onde laboravam monges copistas e iluminadores, próximo da biblioteca ou arquivo, ou mesmo da tipografia, ofício em que se destacaram os mosteiros depois do século XV, tendo sido um dos focos de maior difusão da imprensa de caracteres móveis. Anexamente às estruturas centrais do mosteiro, claustro e igreja, retêm importância as áreas ligadas às produções agrícolas oriundas quer dos terrenos da cerca monástica e pinhais adjacentes, quer das granjas e propriedades pertencentes ao mosteiro localizadas em áreas a ele mais ou menos longínquas (minas, pesqueiras, salinas, granjas agropecuárias). Falamos dos celeiros, moinhos, adegas, tulhas, cavalariças e estábulos, oficinas, pocilgas, etc. Os mosteiros têm ainda uma importante função histórica, a de hospedaria de peregrinos e viajantes que à sua portaria acedam, além da caridade aos pobres e mendigos. Muitos mosteiros foram fundados junto de rotas de peregrinação, que aliás estiveram na sua origem, como sucedeu com as comunidades erigidas por Cluny nos caminhos de peregrinação a Santiago de Compostela.
Os mosteiros possuíam ainda, nas suas cercas, jardins, capelas, ermidas, pomares, estufas, lagos e também laboratórios e centros de pesquisa, como observação astronómica, por exemplo. De recordar também que muitos mosteiros possuem colégios e outro tipo de escolas, a recordar as scolae monásticas da Idade Média. Os mosteiros exerceram uma grande obra civilizadora na Europa, principalmente no período medieval, além de colonização, exploração territorial e de pesquisa científica, não esquecendo que foi em mosteiros que se traduziram e guardaram as fontes clássicas do Renascimento.
O mosteiro encerra um conjunto de estruturas para habitação e oração para os monges/monjas. A igreja é o elemento definidor e orientador da edificação das construções num mosteiro e de todo o seu conjunto, pois a obrigação aos monges da frequência diária e regular do ofício divino assim o impõe. Além da missa conventual (este termo significa, neste sentido, "da comunidade", do latim conventus, "assembleia", "reunião"), por dia realizavam-se nove ofícios. Além da igreja, ocupa também uma posição estruturadora importante, não apenas fisicamente mas também do ponto de vista espiritual e comunitário, o claustro (podem ser um, por vezes dois e às vezes três ou até mais), que se abre para um jardim, onde por vezes existe uma fonte ou lavabos em frente ao refeitório. Em torno do claustro, dispõem-se galerias cobertas e colunadas, nas quais se encontram acessos às funcionalidades e serviços do mosteiro (sala do capítulo, refeitório, parlatório, dormitório, cozinhas?). O dormitório, uma das áreas comunitárias mais relevantes no mosteiro, está colocado perto da igreja, no primeiro andar, situação que se começou a verificar a partir do século XII, época de reformas monásticas. Assim junto à igreja, através de uma escadaria os monges teriam mais rápido e cómodo acesso à mesma para o ofício noturno, as matinas. A partir de fins do século XIX ? já antes em muitos mosteiros ? os dormitórios passaram a ser substituídos na totalidade pelas celas, apenas ficando naqueles maiores espaços os mais novos. O capítulo, ou sala do c., a dar para o claustro, era o lugar onde os monges, todos os dias depois do ofício de Prima (hora prima) se reuniam para ouvir a leitura de um capítulo da Regra de S. Bento (capitulum), de onde recebeu o nome. É também o lugar de reunião da comunidade, para eleições e para distribuição sazonal ou diária das tarefas e ofícios do mosteiro. Aí também se faz o "capítulo das culpas", onde cada monge se "confessa" a toda a comunidade reunida. Existem também a enfermaria e o calefatório, ou sala de aquecimento.
Os mosteiros também se notabilizaram pela existência de funções específicas da condição de vida monástica, como os scriptoriae (do latim scriptor, "o que escreve"), onde laboravam monges copistas e iluminadores, próximo da biblioteca ou arquivo, ou mesmo da tipografia, ofício em que se destacaram os mosteiros depois do século XV, tendo sido um dos focos de maior difusão da imprensa de caracteres móveis. Anexamente às estruturas centrais do mosteiro, claustro e igreja, retêm importância as áreas ligadas às produções agrícolas oriundas quer dos terrenos da cerca monástica e pinhais adjacentes, quer das granjas e propriedades pertencentes ao mosteiro localizadas em áreas a ele mais ou menos longínquas (minas, pesqueiras, salinas, granjas agropecuárias). Falamos dos celeiros, moinhos, adegas, tulhas, cavalariças e estábulos, oficinas, pocilgas, etc. Os mosteiros têm ainda uma importante função histórica, a de hospedaria de peregrinos e viajantes que à sua portaria acedam, além da caridade aos pobres e mendigos. Muitos mosteiros foram fundados junto de rotas de peregrinação, que aliás estiveram na sua origem, como sucedeu com as comunidades erigidas por Cluny nos caminhos de peregrinação a Santiago de Compostela.
Os mosteiros possuíam ainda, nas suas cercas, jardins, capelas, ermidas, pomares, estufas, lagos e também laboratórios e centros de pesquisa, como observação astronómica, por exemplo. De recordar também que muitos mosteiros possuem colégios e outro tipo de escolas, a recordar as scolae monásticas da Idade Média. Os mosteiros exerceram uma grande obra civilizadora na Europa, principalmente no período medieval, além de colonização, exploração territorial e de pesquisa científica, não esquecendo que foi em mosteiros que se traduziram e guardaram as fontes clássicas do Renascimento.
MONAQUISMO OCIDENTAL
Monaquismo Ocidental
Monaquismo é um termo que deriva do verbo grego monadzein (viver em solidão), sendo um fenómeno comum a várias religiões, entre as quais a cristã. O termo monachos (aquele que vive só) nasce no século II, embora o monaquismo propriamente dito apenas surja como fenómeno concreto e histórico no século IV, na Ásia Menor, depois na Síria e logo no Egito. Primeiro como anacoretas (isolados) depois como cenobitas (em comunidade), estes homens solitários expandem-se paralelamente à difusão do cristianismo no mundo romano. Seguiam textos normativos escritos por monges celebrados por Sua Santidade, como S.to Antão ou S. Basílio, este particularmente importante para o monaquismo oriental ainda hoje vivente na Europa cristã de rito ortodoxo.
Esta forma de vida solitária e em ascese contínua, centrada na castidade, na pobreza e na oração, facilmente se enraizou no Ocidente europeu, então destroçado e dilacerado pelas invasões germânicas e pelo fim gradual da romanidade. Na Itália, por exemplo, surge um dos rebentos mais fortes do monaquismo ocidental, S.to Ambrósio de Milão, ainda hoje celebrado. Na Gália, aparece S. Martinho de Tours, mas será na Irlanda céltica que o monaquismo atingirá níveis de ascese, rudeza e singularidade apenas comparáveis às práticas dos monges de certas comunidades da Síria e do Egito. Na "Ilha Verde" surgem vários mosteiros no século VI, entre os quais o de Bangor no golfo de Belfast, o mais célebre, fundado por S. Comgall, em cerca de 588. Dois dos maiores monges da Alta Idade Média eram oriundos dali: S. Columbano e S. Galo (ou Gallen), responsáveis pela irradiação do monaquismo na Gália e Helvécia (atual Suíça), fundadores de abadias com formas de vida rigorosas e até de ascese radical.
Há, todavia, uma figura no monaquismo que assume, pela sua ação, inteligência e génio, a paternidade e exponência da vida monástica: S. Bento de Núrsia, fundador dos Beneditinos e verdadeiro regulador do mundo claustral. Foi, de facto, o primeiro a elaborar uma regra aplicável a todas as fundações monásticas, acabando com a confusão das criações de mosteiros de forma desordenada e caótica, sem disciplina e medida na vida comunitária. A sua Regra, sábia e comedida, era facilmente aplicável aos mais diversos lugares e suas contingências, assegurando igualmente a estabilidade e permanência dos monges no mosteiro. Para além da ascese e vida contemplativa - como no monaquismo oriental - o monaquismo beneditino ganha em originalidade e sucesso graças ao valor que confere ao trabalho manual. Daí que muitos discípulos de S. Columbano, na Gália, tenham aderido à Regra do patriarca do Ocidente, Bento, o que se refletiu na proteção real aos mosteiros e à expansão dos monges por toda a cristandade ocidental.
Porém, esta corrente beneditina, apesar do vigor, conhecerá duas reformas na Idade Média: em 910, com Cluny, e em 1098, com Cister, os dois polos irradiadores do monaquismo medieval. A primeira era eminentemente litúrgica e rica, a segunda humilde e agrária. Ambas, porém, ajudaram a "construir" a Europa e a sua identidade.
Ao lado do monaquismo, também no Ocidente despontaram formas de vida eremítica: Camaldoli (1002), Vallombrosa (1039), a Cartuxa (1084)... De certo modo idênticos aos monges, também os cónegos regulares (em Portugal, denominavam-se de Crúzios, ou de S.ta Cruz), inspirados na chamada "regra" de S.to Agostinho, se implantaram com grande êxito na Europa, desempenhando um papel cultural enorme. Surgirão depois, no século XIII, as Ordens Mendicantes, não de monges mas de frades, como os franciscanos e os dominicanos, que marcarão o declínio da vida monástica no Ocidente europeu.
Mas convém referir a ação civilizadora do monaquismo ocidental. Com efeito, graças ao trabalho silencioso dos monges nos seus scriptoriae e nas bibliotecas, as obras-primas da Antiguidade clássica foram preservadas e traduzidas, chegando até hoje. Inúmeros pensadores medievais saíram do mundo monástico, entre os quais se destaca o Doutor Melífluo, S. Bernardo de Claraval. Inovaram e dinamizaram também nos domínios da arquitetura, da arte e da moral, para além de humanizarem a sociedade, transformando "desertos", florestas e pântanos em jardins e belos campos de cultivo. Novos métodos e uma organização eficiente do trabalho foram outras das prestações dos monges do Ocidente.
Sobreviveram a crises várias, à Reforma protestante, às Luzes e à Revolução Francesa, ao laicismo e ao republicanismo dos séculos XIX e XX, ao anticlericalismo e a outras vicissitudes, mantendo viva hoje em dia a chama dos seus quases dois mil anos de oração, meditação e trabalho contínuos.
Esta forma de vida solitária e em ascese contínua, centrada na castidade, na pobreza e na oração, facilmente se enraizou no Ocidente europeu, então destroçado e dilacerado pelas invasões germânicas e pelo fim gradual da romanidade. Na Itália, por exemplo, surge um dos rebentos mais fortes do monaquismo ocidental, S.to Ambrósio de Milão, ainda hoje celebrado. Na Gália, aparece S. Martinho de Tours, mas será na Irlanda céltica que o monaquismo atingirá níveis de ascese, rudeza e singularidade apenas comparáveis às práticas dos monges de certas comunidades da Síria e do Egito. Na "Ilha Verde" surgem vários mosteiros no século VI, entre os quais o de Bangor no golfo de Belfast, o mais célebre, fundado por S. Comgall, em cerca de 588. Dois dos maiores monges da Alta Idade Média eram oriundos dali: S. Columbano e S. Galo (ou Gallen), responsáveis pela irradiação do monaquismo na Gália e Helvécia (atual Suíça), fundadores de abadias com formas de vida rigorosas e até de ascese radical.
Há, todavia, uma figura no monaquismo que assume, pela sua ação, inteligência e génio, a paternidade e exponência da vida monástica: S. Bento de Núrsia, fundador dos Beneditinos e verdadeiro regulador do mundo claustral. Foi, de facto, o primeiro a elaborar uma regra aplicável a todas as fundações monásticas, acabando com a confusão das criações de mosteiros de forma desordenada e caótica, sem disciplina e medida na vida comunitária. A sua Regra, sábia e comedida, era facilmente aplicável aos mais diversos lugares e suas contingências, assegurando igualmente a estabilidade e permanência dos monges no mosteiro. Para além da ascese e vida contemplativa - como no monaquismo oriental - o monaquismo beneditino ganha em originalidade e sucesso graças ao valor que confere ao trabalho manual. Daí que muitos discípulos de S. Columbano, na Gália, tenham aderido à Regra do patriarca do Ocidente, Bento, o que se refletiu na proteção real aos mosteiros e à expansão dos monges por toda a cristandade ocidental.
Porém, esta corrente beneditina, apesar do vigor, conhecerá duas reformas na Idade Média: em 910, com Cluny, e em 1098, com Cister, os dois polos irradiadores do monaquismo medieval. A primeira era eminentemente litúrgica e rica, a segunda humilde e agrária. Ambas, porém, ajudaram a "construir" a Europa e a sua identidade.
Ao lado do monaquismo, também no Ocidente despontaram formas de vida eremítica: Camaldoli (1002), Vallombrosa (1039), a Cartuxa (1084)... De certo modo idênticos aos monges, também os cónegos regulares (em Portugal, denominavam-se de Crúzios, ou de S.ta Cruz), inspirados na chamada "regra" de S.to Agostinho, se implantaram com grande êxito na Europa, desempenhando um papel cultural enorme. Surgirão depois, no século XIII, as Ordens Mendicantes, não de monges mas de frades, como os franciscanos e os dominicanos, que marcarão o declínio da vida monástica no Ocidente europeu.
Mas convém referir a ação civilizadora do monaquismo ocidental. Com efeito, graças ao trabalho silencioso dos monges nos seus scriptoriae e nas bibliotecas, as obras-primas da Antiguidade clássica foram preservadas e traduzidas, chegando até hoje. Inúmeros pensadores medievais saíram do mundo monástico, entre os quais se destaca o Doutor Melífluo, S. Bernardo de Claraval. Inovaram e dinamizaram também nos domínios da arquitetura, da arte e da moral, para além de humanizarem a sociedade, transformando "desertos", florestas e pântanos em jardins e belos campos de cultivo. Novos métodos e uma organização eficiente do trabalho foram outras das prestações dos monges do Ocidente.
Sobreviveram a crises várias, à Reforma protestante, às Luzes e à Revolução Francesa, ao laicismo e ao republicanismo dos séculos XIX e XX, ao anticlericalismo e a outras vicissitudes, mantendo viva hoje em dia a chama dos seus quases dois mil anos de oração, meditação e trabalho contínuos.
IGREJA DE ROMA
Igreja de Roma
A Igreja de Roma na Idade Média começou a ser moldada a partir do século V, depois da queda do Império Romano do Ocidente em 476. Com a irrupção das tribos "bárbaras" dentro do Império e os sucessivos ataques e saques a Roma (Visigodos, Hunos, Vândalos, Suevos, Hérulos, entre outros) ao longo do século V, sucessivas alianças do papado com os soberanos invasores e legislações relativas a eleições e governo da Igreja começaram a produzir alguma estabilidade e um clima de maior tranquilidade em torno da cadeira de S. Pedro. Depois do processo de transição que foi o século VI, com a pressão bizantina e dos Godos, surgiu a eleição do papa S. Gregório I (Magno), em 590, como um bálsamo apaziguador no clima conturbado de Roma. Com a paz que este Pontífice assinou com os Lombardos em 593, iniciou-se um clima de paz na Itália e formaram-se as bases do poder temporal dos Papas ao longo da Idade Média, através do seu poder de influência sobre territórios adjacentes, que cada vez mais se foram transformando em estados pontifícios. Em 607, a Igreja de Roma veria reforçado o seu primado universal, quando o imperador bizantino Focas (herdeiro do Império Romano do oriente, com capital em Constantinopla) reconheceu o primado da Igreja de Roma sobre todas as igrejas cristãs.
Antes, o batismo de Clóvis (rei dos Francos) em 496, a evangelização de outras regiões do Ocidente e a redação da Regra de S. Bento (c. 534-c. 547) e subsequente fundação da Ordem Beneditina (primeira experiência monástica ocidental bem sucedida), além das reformas litúrgicas e institucionais por parte de S. Gregório Magno, deram maior fulgor ao advento da Igreja Romana medieval e seu primado sobre todas as esferas da Cristandade. Esta posição forte permitirá a Roma ter uma atitude respeitada e de autoridade aquando da crise dos Iconoclastas, na Cristandade bizantina oriental, entre 727 e 843. Importante data para a Igreja de Roma e para a sua preponderância espiritual e como senhorio temporal, foi a fundação dos Estados da Igreja em 756, com o apoio de Pepino o Breve, soberano franco, reino que era nesta altura o maior aliado de Roma. Esta parceria foi consumada na sagração imperial de Carlos Magno em Roma no dia de Natal de 800, refundando, com o apoio da Igreja de Roma, a ideia de um novo Império Romano do Ocidente, ungido sacralmente pelo papado romano.
Em 847 o papa Leão IV (847-855) mandou construir muralhas em torno da basílica de S. Pedro do Vaticano (obras terminadas em 852), fundada por Constantino em 324-329, sobre a tumba do príncipe dos apóstolos e sucessor de Cristo, estrutura que seria depois ampliada e redecorada com frescos pelos papas S. Leão Magno (440-461) e S. Gregório Magno (590-604). O amuralhamento conferiu a dignidade e senhorialidade enquanto poder temporal, ao passo que as restantes obras sublimaram artisticamente a preponderância e importância espiritual da Igreja de Roma. Este engrandecimento material verificou-se em muitas outras igrejas não apenas de Roma como de Itália e do resto da Cristandade ocidental, apoiado também pela reforma beneditina de Cluny a partir de 910 e com o fermento do ideal de peregrinações, o desenvolvimento do comércio e o renascimento económico e cultural da Europa a partir do Ano Mil, quando por toda a parte surgiu "um manto branco de igrejas" e se anunciava o Românico. A Igreja de Roma caminhava para o seu auge no período medieval, ainda que tenha sido violentamente sacudida, não só em termos de memória histórica como de primado espiritual e imagem perante os cristãos, pelo grande Cisma de 1054, entre o papado romano e a Igreja de Constantinopla, ou bizantina, que ainda hoje perdura. Em 1059 criava-se o colégio cardinalício, numa época em que começa a reforma gregoriana, encetada pelo papa Gregório VII. Pouco tempo depois, começavam as Cruzadas (1096) e reafirmava-se a posição de Roma na Igreja ocidental. Apesar dos ataques normandos (1084) e dos ataques do Sacro Império Romano-Germânico, Roma conseguiu sempre impor a sua posição, impondo-se em Canossa (1077, submissão do imperador Henrique IV a Gregório VII), mas deixando arrastar a Querela das Investiduras durante algum tempo (até à concordata de Worms, em 1122), que abalou a imagem da Igreja de Roma e as suas pretensões em termos de poder temporal, que não foram muito lesadas, no entanto. Pouco depois, porém, problemas internos surgiram em Roma, depois da cidade ter vencido a vizinha Tivoli, com o povo romano a ser proibido de destruir a cidade vencida, o que provocou tumultos contra o papa na Cidade Eterna. Emergiu a figura revolucionária de Arnoldo di Brescia e o há muito extinto Senado do tempo do Império Romano, o qual declarou que Roma passava a ser independente do papado. Arnoldo e o senado, juntamente com os revoltosos, seriam vencidos em 1150-51, com o imperador Frederico Barbarroxa a apoiar o papado perante o estado de situação. O Senado não desapareceu, porém, como representante do povo de Roma. Mais tarde, o papado teria que enfrentar em Roma as revoltas de Cola di Rienzo, no século XIV, numa crise que rebentou em 1347 e se estendeu até 1354. De destacar a realização de alguns concílios em Latrão (Roma), importantes para o governo da Igreja universal, com destaque para a cidade de Roma, que tinha em 1200 cerca de 35 000 almas. Em 1300 a proclamação por Bonifácio VIII do Jubileu revelou-se importante para a revalorização de Roma, não apenas pela valorização estética de uma cidade em acentuada decadência material e urbana, dominada por uma aristocracia de pequenos senhores irrequietos sempre em conflito ora com o Imperador germânico ora com o próprio, de que resultavam revoltas e motins, que recrutavam apoios na plebe miserável, turbulenta e indigente que povoava Roma. Os mais de 200 000 peregrinos que vieram a Roma em 1300 (entre eles Dante, Giotto, Cimabue...) impulsionaram alguma revalorização e requalificação da cidade, que sempre viveu atrelada ao poder da Igreja, o único capaz de a governar e com poder de investimentos. De recordar também a criação da Inquisição romana em 1232. Mas esta reanimação da Igreja de Roma ficou toldada pela instalação dos papas em Avinhão entre 1305 e 1378, ano em que começo um novo Cisma, dito do Ocidente, que se resolveu fora da Itália e da Urbe, neutralmente em Constança, no Império, em concílio reunido em 1315-1317. Pelo meio, ficou a cidade abandonada a revoltas, como a de Cola di Rienzo, a fomes e à grande Peste Negra de 1347-1350, que se abateu também sobre Roma, com a população empobrecida e declarando-se abandonada pela Igreja, senhorio que substituiu o Império Romano desde 476. Depois do restabelecimento da autoridade papal em Roma em 1420, por Martinho V, voltava a Igreja definitivamente a Roma e começava o Renascimento e uma nova era para a Cidade Eterna.
 |
| GREGÓRIO, O GRANDE |
Antes, o batismo de Clóvis (rei dos Francos) em 496, a evangelização de outras regiões do Ocidente e a redação da Regra de S. Bento (c. 534-c. 547) e subsequente fundação da Ordem Beneditina (primeira experiência monástica ocidental bem sucedida), além das reformas litúrgicas e institucionais por parte de S. Gregório Magno, deram maior fulgor ao advento da Igreja Romana medieval e seu primado sobre todas as esferas da Cristandade. Esta posição forte permitirá a Roma ter uma atitude respeitada e de autoridade aquando da crise dos Iconoclastas, na Cristandade bizantina oriental, entre 727 e 843. Importante data para a Igreja de Roma e para a sua preponderância espiritual e como senhorio temporal, foi a fundação dos Estados da Igreja em 756, com o apoio de Pepino o Breve, soberano franco, reino que era nesta altura o maior aliado de Roma. Esta parceria foi consumada na sagração imperial de Carlos Magno em Roma no dia de Natal de 800, refundando, com o apoio da Igreja de Roma, a ideia de um novo Império Romano do Ocidente, ungido sacralmente pelo papado romano.
Em 847 o papa Leão IV (847-855) mandou construir muralhas em torno da basílica de S. Pedro do Vaticano (obras terminadas em 852), fundada por Constantino em 324-329, sobre a tumba do príncipe dos apóstolos e sucessor de Cristo, estrutura que seria depois ampliada e redecorada com frescos pelos papas S. Leão Magno (440-461) e S. Gregório Magno (590-604). O amuralhamento conferiu a dignidade e senhorialidade enquanto poder temporal, ao passo que as restantes obras sublimaram artisticamente a preponderância e importância espiritual da Igreja de Roma. Este engrandecimento material verificou-se em muitas outras igrejas não apenas de Roma como de Itália e do resto da Cristandade ocidental, apoiado também pela reforma beneditina de Cluny a partir de 910 e com o fermento do ideal de peregrinações, o desenvolvimento do comércio e o renascimento económico e cultural da Europa a partir do Ano Mil, quando por toda a parte surgiu "um manto branco de igrejas" e se anunciava o Românico. A Igreja de Roma caminhava para o seu auge no período medieval, ainda que tenha sido violentamente sacudida, não só em termos de memória histórica como de primado espiritual e imagem perante os cristãos, pelo grande Cisma de 1054, entre o papado romano e a Igreja de Constantinopla, ou bizantina, que ainda hoje perdura. Em 1059 criava-se o colégio cardinalício, numa época em que começa a reforma gregoriana, encetada pelo papa Gregório VII. Pouco tempo depois, começavam as Cruzadas (1096) e reafirmava-se a posição de Roma na Igreja ocidental. Apesar dos ataques normandos (1084) e dos ataques do Sacro Império Romano-Germânico, Roma conseguiu sempre impor a sua posição, impondo-se em Canossa (1077, submissão do imperador Henrique IV a Gregório VII), mas deixando arrastar a Querela das Investiduras durante algum tempo (até à concordata de Worms, em 1122), que abalou a imagem da Igreja de Roma e as suas pretensões em termos de poder temporal, que não foram muito lesadas, no entanto. Pouco depois, porém, problemas internos surgiram em Roma, depois da cidade ter vencido a vizinha Tivoli, com o povo romano a ser proibido de destruir a cidade vencida, o que provocou tumultos contra o papa na Cidade Eterna. Emergiu a figura revolucionária de Arnoldo di Brescia e o há muito extinto Senado do tempo do Império Romano, o qual declarou que Roma passava a ser independente do papado. Arnoldo e o senado, juntamente com os revoltosos, seriam vencidos em 1150-51, com o imperador Frederico Barbarroxa a apoiar o papado perante o estado de situação. O Senado não desapareceu, porém, como representante do povo de Roma. Mais tarde, o papado teria que enfrentar em Roma as revoltas de Cola di Rienzo, no século XIV, numa crise que rebentou em 1347 e se estendeu até 1354. De destacar a realização de alguns concílios em Latrão (Roma), importantes para o governo da Igreja universal, com destaque para a cidade de Roma, que tinha em 1200 cerca de 35 000 almas. Em 1300 a proclamação por Bonifácio VIII do Jubileu revelou-se importante para a revalorização de Roma, não apenas pela valorização estética de uma cidade em acentuada decadência material e urbana, dominada por uma aristocracia de pequenos senhores irrequietos sempre em conflito ora com o Imperador germânico ora com o próprio, de que resultavam revoltas e motins, que recrutavam apoios na plebe miserável, turbulenta e indigente que povoava Roma. Os mais de 200 000 peregrinos que vieram a Roma em 1300 (entre eles Dante, Giotto, Cimabue...) impulsionaram alguma revalorização e requalificação da cidade, que sempre viveu atrelada ao poder da Igreja, o único capaz de a governar e com poder de investimentos. De recordar também a criação da Inquisição romana em 1232. Mas esta reanimação da Igreja de Roma ficou toldada pela instalação dos papas em Avinhão entre 1305 e 1378, ano em que começo um novo Cisma, dito do Ocidente, que se resolveu fora da Itália e da Urbe, neutralmente em Constança, no Império, em concílio reunido em 1315-1317. Pelo meio, ficou a cidade abandonada a revoltas, como a de Cola di Rienzo, a fomes e à grande Peste Negra de 1347-1350, que se abateu também sobre Roma, com a população empobrecida e declarando-se abandonada pela Igreja, senhorio que substituiu o Império Romano desde 476. Depois do restabelecimento da autoridade papal em Roma em 1420, por Martinho V, voltava a Igreja definitivamente a Roma e começava o Renascimento e uma nova era para a Cidade Eterna.
ÉDITO DE MILÃO E ÉDICTO DE TESSALÓNICA
Édito de Milão
Constantino I o Grande
O Édito de Milão, promulgado a 13 de junho de 313 pelo imperador Constantino (306-337), assegurou a tolerância e liberdade de culto para com os cristãos, alargada a todo o território do Império Romano. Após um período de grande intolerância e de perseguições oficiais aos cristãos, a medida tomada por Constantino teve enormes consequências na História do Ocidente, marcando o início da aproximação e identificação do Império com o cristianismo, facto que conduzirá, em breve, à proclamação do cristianismo como religião oficial do Estado, por Teodósio, em 380. Dois anos antes em 311, já Galério havia reconhecido oficialmente o cristianismo no Oriente. Os costumes cristãos impõem-se rapidamente na vida social e política. O poder já não persegue os cristãos, favorece-os e ajuda-os. Passa a ser um elemento de coesão do Império, um fator de unidade do Ocidente. Os clérigos beneficiam de imunidade fiscal e é reconhecida a jurisdição episcopal. Constantino estipula ainda o descanso dominical e proíbe os sacrifícios sanguinários pagãos. Em 337, à hora da morte, o imperador Constantino foi batizado pelo bispo Eusébio de Cesareia. A partir do século III, o Cristianismo expandiu-se conquistando adeptos entre todas as camadas da sociedade imperial. Finalmente, já no século IV (312 d.C) , o imperador Constantino coverteu-se ao Cristianismo. Em 313 publica o Edito de Milão: numa carta imperial dirigida aos governadores das províncias ordena que estes concedam “tanto aos cristãos como a todos os demais a faculdade de seguirem livremente a religião que desejarem” e “ que lhes sejam devolvidos os locais onde anteriormente se reuniam” e “outros pertencentes à sua comunidade”. Ao conferir liberdade de culto aos Cristãos, devolvendo-lhes, além disso, os bens confiscados, o Edicto de Milão, representa, não só, o fim das perseguições ao Cristianismo, mas também o início da sua preponderância no Ocidente: os imperadores concedem aos Cristãos isenções fiscais, cargos elevados na administração do império, doações, a construção de templos. A Igreja romano-cristã (séculos IV e V d.C) é protegida pelo Império.
Para resolver questões doutrinais, reuniram-se os Concílios (assembleias de bispos): foi o caso do Concílio de Niceia, convocado por Constantino, onde se estabeleceu o dogma (verdade inquestionável, percebida pela fé) da Santíssima Trindade.
Em 380, o imperador Teodósio, promulga o Edicto de Tessalónica, através do qual ordena “que todos os povos regidos pela administração de nossa Clemência pratiquem a religião que o divino apóstolo Pedro transmitiu aos Romanos”, e “que todas aquelas pessoas que seguem esta norma tomem o nome de Cristãos Católicos”. O Cristianismo tornava-se a religião oficial do Estado romano. Os antigos deuses pagãos (não-cristãos) foram proibidos, os seus seguidores considerados “dementes e insensatos”, os seus templos destruídos ou convertidos em Igrejas.
Em tempo de crise política, o Edicto de Tessalónica cumpriu duas funções: além de consumar a supremacia da religião cristã sobre todas as outras, reforçou o poder do imperador e a unidade do Império Romano. Este fora temporariamente dividido nas suas partes ocidental e oriental em 284, mas o cristianismo viera restituir-lhe um sentimento de unidade sob a liderança de um imperador e a protecção de uma divindade (monoteísmo) antes da divisão definitiva em 395. O imperador, não sendo um Deus, era o seu representante na Terra.
Em consequência , a organização da Igreja segue a organização do Império (por exemplo, a diocese, dirigida por um bispo, corresponde à cidade), e Roma, sede do Império, é também sede do Cristianismo, dirigido pelo Papa (avó em grego), o mais importante dos bispos, que exercerá a autoridade sobre todos os fiéis do mundo cristão.
 |
| Édito de Milão |
O Édito de Milão, promulgado a 13 de junho de 313 pelo imperador Constantino (306-337), assegurou a tolerância e liberdade de culto para com os cristãos, alargada a todo o território do Império Romano. Após um período de grande intolerância e de perseguições oficiais aos cristãos, a medida tomada por Constantino teve enormes consequências na História do Ocidente, marcando o início da aproximação e identificação do Império com o cristianismo, facto que conduzirá, em breve, à proclamação do cristianismo como religião oficial do Estado, por Teodósio, em 380. Dois anos antes em 311, já Galério havia reconhecido oficialmente o cristianismo no Oriente. Os costumes cristãos impõem-se rapidamente na vida social e política. O poder já não persegue os cristãos, favorece-os e ajuda-os. Passa a ser um elemento de coesão do Império, um fator de unidade do Ocidente. Os clérigos beneficiam de imunidade fiscal e é reconhecida a jurisdição episcopal. Constantino estipula ainda o descanso dominical e proíbe os sacrifícios sanguinários pagãos. Em 337, à hora da morte, o imperador Constantino foi batizado pelo bispo Eusébio de Cesareia. A partir do século III, o Cristianismo expandiu-se conquistando adeptos entre todas as camadas da sociedade imperial. Finalmente, já no século IV (312 d.C) , o imperador Constantino coverteu-se ao Cristianismo. Em 313 publica o Edito de Milão: numa carta imperial dirigida aos governadores das províncias ordena que estes concedam “tanto aos cristãos como a todos os demais a faculdade de seguirem livremente a religião que desejarem” e “ que lhes sejam devolvidos os locais onde anteriormente se reuniam” e “outros pertencentes à sua comunidade”. Ao conferir liberdade de culto aos Cristãos, devolvendo-lhes, além disso, os bens confiscados, o Edicto de Milão, representa, não só, o fim das perseguições ao Cristianismo, mas também o início da sua preponderância no Ocidente: os imperadores concedem aos Cristãos isenções fiscais, cargos elevados na administração do império, doações, a construção de templos. A Igreja romano-cristã (séculos IV e V d.C) é protegida pelo Império.
Para resolver questões doutrinais, reuniram-se os Concílios (assembleias de bispos): foi o caso do Concílio de Niceia, convocado por Constantino, onde se estabeleceu o dogma (verdade inquestionável, percebida pela fé) da Santíssima Trindade.
Em 380, o imperador Teodósio, promulga o Edicto de Tessalónica, através do qual ordena “que todos os povos regidos pela administração de nossa Clemência pratiquem a religião que o divino apóstolo Pedro transmitiu aos Romanos”, e “que todas aquelas pessoas que seguem esta norma tomem o nome de Cristãos Católicos”. O Cristianismo tornava-se a religião oficial do Estado romano. Os antigos deuses pagãos (não-cristãos) foram proibidos, os seus seguidores considerados “dementes e insensatos”, os seus templos destruídos ou convertidos em Igrejas.
Em tempo de crise política, o Edicto de Tessalónica cumpriu duas funções: além de consumar a supremacia da religião cristã sobre todas as outras, reforçou o poder do imperador e a unidade do Império Romano. Este fora temporariamente dividido nas suas partes ocidental e oriental em 284, mas o cristianismo viera restituir-lhe um sentimento de unidade sob a liderança de um imperador e a protecção de uma divindade (monoteísmo) antes da divisão definitiva em 395. O imperador, não sendo um Deus, era o seu representante na Terra.
Em consequência , a organização da Igreja segue a organização do Império (por exemplo, a diocese, dirigida por um bispo, corresponde à cidade), e Roma, sede do Império, é também sede do Cristianismo, dirigido pelo Papa (avó em grego), o mais importante dos bispos, que exercerá a autoridade sobre todos os fiéis do mundo cristão.
INVASÕES BÁRBARAS NA PENÍNSULA IBÉRICA
Reinos Germânicos do Ocidente Peninsular
 |
| Reinos Germânicos do Ocidente Peninsular |
Os Suevos estabeleceram-se em 411 no Norte da Península - Bracara Augusta (Braga), Aquae Flaviae (Chaves), Portucale (Porto), Lamecus (Lamego) e Tui -, tendo por vizinhos os Vândalos Asdingos, que ficaram com a parte oriental da Galécia. Nas cidades, mais fortemente romanizadas e protegidas, a penetração de suevos e vândalos foi mais difícil, mas nas zonas rurais a situação era bem diferente, pois constituía território mais vulnerável, sendo, por isso, alvo de total destruição e saque à chegada dos invasores.
Livres dos Vândalos Asdingos em 429, quando estes se transferiram para o Norte de África, os Suevos construíram um reino que teve o seu período mais brilhante no século V, época de consolidação entre 430 e 456.
O convívio dos suevos com os hispano-romanos, mais propriamente com os galaico-romanos e com um sem-número de estrangeiros - gregos, sírios, egípcios, judeus, etc., detentores de um comércio muito ativo - foi relativamente pacífico após a negociação de paz entre os povos efetuada pelo bispo galaico-romano Idácio, depois de 431. A partir de 438, iniciaram a sua expansão, quando Réquila invadiu a Bética e assolou algumas cidades da Lusitânia como Mérida e Mértola e depois Sevilha. Réquila dominaria este território até 446. No entanto, os feitos militares não tiveram grandes resultados futuros devidos a uma má administração das conquistas e a uma falta de efetivos para manter os territórios conquistados. Preferiam dar mais atenção aos saques e aos despojos de guerra do que promover um programa eficaz de povoamento e ocupação das terras, com melhores resultados a longo prazo.
Apesar de em menor número, durante muito tempo combateram com o outro povo germânico, que também se estabelecera no mesmo território pela mesma época - os Visigodos. Estes mostravam um maior avanço civilizacional e rapidamente atingiram o Império Suevo com a penetração na Galaécia, em 455, e a tomada de Bracara, em 456, sob Teodorico II, tendo o rei Requiário sido aprisionado e morto.
O Império Romano nunca se conformou com a perda dos territórios da Hispânia e não desistia de encontrar uma solução para os reaver. A chegada do exército dos visigodos ocorre na sequência de um pedido de auxílio por parte dos hispano-romanos da região de Tarragona e Lérida, como forma de acabar com a opressão dos suevos e do não cumprimento de um acordo estabelecido por Requiário, quando atacou o território da província romana designada de Cartaginense. Constitui também uma manobra estratégica de o imperador romano vir a dominar novamente a Hispânia.
No entanto, este episódio não precipitou o fim dos suevos, pois um novo período foi iniciado por Maldras, ocupando territórios partilhados com os visigodos. Maldras matou Agiulfo, o rei suevo nomeado por Teodorico II, e tomou o poder. Como não foi reconhecido por todos os suevos, originaram-se divisões dentro do reino. Após o seu assassinato, o reino cai na anarquia, arruinando-se os campos e as cidades. Combateram contra os visigodos apoiados pelos hispano-romanos entre o período de 457 e 469. Após este período, perderam a importância que detinham, restringindo-se aos territórios do Norte: Galaécia e os bispados de Veseo e Conímbriga. Os visigodos iam-se destacando tendo como aliados os já mencionados hispano-romanos e os galaico-romanos.
Não se podem ignorar os conflitos religiosos que tiveram lugar entre os povos germânicos e entre estes e as comunidades cristãs que já se encontravam implantadas no território, pelos menos a partir de meados do século III. Na altura do ataque bárbaro estas comunidades eram ainda muito vulneráveis e estavam confinadas principalmente às cidades, pois os campos manifestavam um forte apego à idolatria, superstições e manifestações pagãs. Religiosamente, os Suevos eram pagãos posteriormente convertidos ao cristianismo. Requiário converteu-se em 448, denotando uma assimilação da cultura latina. Destaca-se a excelente organização eclesiástica de que dotaram o reino com a fundação de dioceses, sendo as mais importantes a de Bracara e de Lucus. Faziam frente aos visigodos, que mantinham um arreigado arianismo, ao qual se converteu o filho do rei Maldras, provavelmente como forma de manter o seu reino.
Vai caber a Remismundo a unificação do poder. Teodorico II propõe outro chefe para os Suevos em 464, desta vez Remismundo, que, através do casamento com uma mulher visigoda, formaliza a aliança suevo-visigótica. A sua maior expressão foi a conversão dos suevos ao arianismo, mas esta aliança no entanto, teria um fim próximo. Embora os suevos continuassem a combater os visigodos no Sul, as escaramuças não tinham grande expressão e confinaram-se a territórios do Norte. Sensivelmente a partir de 469, a implantação dos dois povos estabilizou-se: os suevos dominavam a Galécia e a Lusitânia setentrional e os visigodos a Bética e a Lusitânia meridional.
A partir de 470, verificou-se uma progressiva hegemonia do povo visigodo, primeiro sob o reinado de Eurico (466 a 484), irmão de Teodorico, e depois durante o reinado de Alarico II, a partir de 484. Foi durante o reinado deste último, que os visigodos se estabeleceram de uma forma expressiva na Hispânia, abandonando a Gália para os Francos. Contrariados, os suevos foram restringidos a uma pequena área constituindo uma espécie de protetorado visigótico. Alarico II, filho de Eurico, destacou-se pela vontade de assimilação da cultura romana, visível através do ato de promulgação da Lex Romana Visigothorum, que esteve na base do código jurídico em vigor até ao século XIII, e da reconciliação com os bispos católicos.
Com a morte de Alarico II, na guerra com os francos na batalha de Vouillé (507), o reino visigótico estava na iminência de se extinguir não fosse a intervenção de Teodorico, o Grande, rei dos Ostrogodos, que entregou a coroa ao seu neto Amalarico. Confiou também a chefia do exército aos ostrogodos que casaram com mulheres visigodas. Desta forma, Teodorico exercia um protetorado ostrogodo sobre os visigodos na Hispânia. Com a morte de Teodorico, em 526, verificou-se um período de instalibidade que Amalarico não conseguiu resolver. Também os Ostrogodos respeitaram a cultura hispano-romana, o clero e os membros da autoridade civil. É neste período que se verifica uma crescente atividade da Igreja hispânica com a realização de concílios, o desenvolvimento da cultura escrita e a construção de mosteiros e basílicas. Apesar de professarem o arianismo, os Visigodos deram liberdade de ação aos bispos católicos.
Lentamente, os Visigodos consolidaram a sua autonomia, pois Amalarico, que governou até 531, conseguiu a restituição do tesouro régio que estava em Ravena e procedeu ao repatriamento dos soldados ostrogodos. A autonomia total relativamente aos Ostrogodos foi conseguida em 549 com a eleição de Águila, que tenta estabelecer-se no Sul, ação dificultada pelos hispano-romanos, suevos e bizantinos.
É durante o século VI que se destaca a figura de um monge húngaro oriundo da Panónia no estabelecimento da Fé Católica entre os povos bárbaros, principalmente entre a elite dirigente, numa primeira fase, atingindo posteriormente as restantes camadas sociais - Martinus, depois São Martinho de Dume. É através da sua ação que o rei Carrarico dos suevos se converte ao cristianismo, cerca de 550. Fundou em Dume um mosteiro segundo a tradição oriental, reorganizou a Igreja sueva e deixou vários escritos de combate às superstições que se verificavam nos campos e à heresia priscilianista. Quando morreu, em 579, era bispo de Braga.
Até ao reinado de Leovigildo, o reino visigótico estava enfraquecido política e economicamente, devido ao agravamento das lutas entre cristãos tradicionais e arianos.
Nada se sabe relativamente aos suevos em datas posteriores a 550 e a antes de 469. É provável que a sua fronteira territorial, que ia até Coimbra e Idanha, não tenha sofrido alterações. Voltam a entrar em conflito com os visigodos governados por Leovigildo, que iniciou o seu reinado em 570. É este novo rei dos Visigodos que, associando ao trono os seus dois filhos Recaredo e Hermenegildo, inicia uma série de campanhas de conquista acabando por unificar toda a Hispânia sob o seu cetro. Tem lugar uma época brilhante de florescimento cultural e de desenvolvimento do cristianismo. A partir de 580, o clero acabaria depois por entrar em controvérsia com os arianos.
O príncipe Hermenegildo casa com uma princesa cristã (579), passa a governar a Bética e converte-se ao cristianismo, distanciando-se assim da política de seu pai Leovigildo, provocando reações por parte dos arianos. Este ainda tentou uma conciliação das partes em conflito mas sem sucesso. Hermenegildo mostrou-se intransigente e pede auxílio aos suevos e aos bizantinos. O conflito resultou na morte de Miro, rei dos Suevos (582), e na prisão e assassinato de Hermenegildo (585). Vitorioso, Leovigildo aproveitou para finalmente anexar o reino suevo ao visigótico, propósito que já tinha em mente quando, em 576, atacou o rei Miro.
Os suevos passaram a viver sob o domínio visigodo, assegurado pela presença do seu exército. Foram confinados ao território da Galécia e os bispos de Lugo, Tui, Porto e Viseu converteram-se ao arianismo. A partir desta altura, cai o silêncio sobre este povo, fruto do processo de assimilação no seio do reino visigótico. Por sua vez, os Visigodos convertem-se ao cristianismo por decisão de Recaredo, entre 585 e 589, colocando fim às querelas religiosas.
Relativamente ao reino suevo, o reino visigótico parece ser mais evoluído, quer no tocante à cultura, quer no que respeita às instituições sociais e políticas. No entanto, esta visão poderá ser fictícia apontando-se as seguintes razões: os Visigodos eram, de facto, os mais romanizados, mas mantiveram, acima de tudo, o seu carácter guerreiro; enriqueceram à custa da apropriação de territórios, dos bens inerentes e dos impostos cobrados; exerceram uma autoridade baseada no uso da força e da riqueza acumulada; serviram-se de leis hispano-romanas; respeitaram o clero e aproveitaram os seus conhecimentos; continuaram a tradição artística e cultural já enraizada de feição hispano-romana, pouco trazendo de novo. A ideia de que o período visigótico é brilhante foi difundida e sustentada por clérigos e monges. Os códices legados às gerações posteriores, contendo regras do direito civil e canónico e os textos litúrgicos foram ciosamente guardados pelo clero. No entanto, todos eles são cópias de textos elaborados pela elite hispânica anterior à sua chegada. Relativamente às estruturas administrativas, tanto Suevos como Visigodos não trouxeram qualquer novidade com a continuação da divisão em civitas, territorium e conventus, que iriam depois desaparecer. Os visigodos assumem portanto o papel de imitadores de uma cultura que não era a sua.
A partir de 586, a seguir à morte de Leovigildo, toma lugar no trono o seu filho Recaredo, cujo reinado (até 601) irá marcar o último período de esplendor da monarquia visigótica. O rei converteu-se ao cristianismo em 589 juntamente com os bispos arianos, fazendo cessar os conflitos religiosos. Com o fim do seu governo emergiu uma acentuada crise política coadjuvada por calamidades e pestes que enfraqueceram o reino durante um longo período (601-642). Ainda se conseguiu recuperar algum esplendor entre os anos da governação autoritária de Quindasvinto (642 a 655) e de Recesvinto (655 a 672). Após a morte deste último, e sob o cetro do rei Vamba, o reino visigótico entrou numa conjuntura de crise política, decadência administrativa, crise social com a luta entre fações da nobreza, crise económica motivada pela desarticulação do comércio e da produção e crise populacional que viu o seu número drasticamente diminuído pelas pestes e fomes. O reino caminha irremediavelmente para o fim, que ocorre quando já não consegue suster o avanço muçulmano (711 a 714) que o destrói.
Vitiza, rei dos Visigodos, morreu em 710 e surgem dois candidatos ao trono: Rodrigo (ou Roderico) e Áquila. A divisão dos nobres no apoio ao sucessor do trono implicou o pedido de intervenção do exército muçulmano por parte de Áquila. Foi pela ação de Tarique ben Ziyad que Rodrigo foi derrotado, o que constituiu a oportunidade para a infiltração dos muçulmanos no reino visigótico. Conquistaram Toledo, apoderaram-se do tesouro régio e impediram a eleição de Áquila, embora lhe concedessem os domínios do fisco. Depois, foi a vez de Musa ben Nusayr atacar Medina-Sidónia, Sevilha e Mérida numa primeira campanha. Posteriormente, reúne-se a Tarique em Toledo e conquistam Saragoça, Burgos, Leão, Astorga, Lugo e Viseu numa segunda campanha. Abd al-Aziz, filho de Musa, ocupava os territórios da Lusitânia - Évora, Santarém e Coimbra, em 714. Acabavam os reinos germânicos do Oeste peninsular.
CONVERSÃO DOS FRANCOS
Cristianização dos Francos
A expansão dos Francos teve início com a grande invasão germânica de 406. Porém, o Estado franco foi organizado por Clóvis (481-511), filho de Childerico I e neto de Meroveu, o fundador da monarquia merovíngia, que, nos meados do século VIII, abrangia toda a Gália.
Com Clóvis, os Francos tornaram-se senhores de toda a Gália.
O facto de se terem mantido pagãos durante este período de tempo permitiu aos Francos colecionar vitórias importantes, já que estavam abertos à conversão ao cristianismo. No entanto, desde muito cedo beneficiaram da simpatia do episcopado e dos fiéis galo-romanos, enquanto os outros germânicos aderiram à heresia ariana, como é o caso dos Burgúndios, Vândalos e Visigodos.
Senhor de toda a Gália setentrional até ao Loire, Clóvis, após ter destruído o reino romano de Siágrio (486), submeteu os Alamanos na batalha de Tolbiac (496) e tornou-se no chefe moral da Gália, devido ao seu batismo ou conversão em 496, onde conseguiu a simpatia e colaboração da Igreja romana no combate contra os outros povos germânicos, pagãos e heréticos. Convertido o rei, logo de imediato a sua corte e depois o povo, não tardaram também a abraçar o Cristianismo, numa altura em que o monaquismo entrava em França, graças a João Cassiano e depois aos Beneditinos ao longo dos séculos VI-VIII.
A vitória de Clóvis sobre os Visigodos, que foram remetidos para a Espanha na sequência da batalha de Vouillé (507), assegurou a expansão deste reino até ao Garona. Conseguiu a reunião dos Francos Sálios e Ripuários, sendo considerado o primeiro rei de França.
Após a sua morte, em 511, e segundo as tradições germânicas, o seu reino foi dividido entre os seus quatro filhos.
 |
| Baptismo do rei Clóvis |
A expansão dos Francos teve início com a grande invasão germânica de 406. Porém, o Estado franco foi organizado por Clóvis (481-511), filho de Childerico I e neto de Meroveu, o fundador da monarquia merovíngia, que, nos meados do século VIII, abrangia toda a Gália.
Com Clóvis, os Francos tornaram-se senhores de toda a Gália.
O facto de se terem mantido pagãos durante este período de tempo permitiu aos Francos colecionar vitórias importantes, já que estavam abertos à conversão ao cristianismo. No entanto, desde muito cedo beneficiaram da simpatia do episcopado e dos fiéis galo-romanos, enquanto os outros germânicos aderiram à heresia ariana, como é o caso dos Burgúndios, Vândalos e Visigodos.
Senhor de toda a Gália setentrional até ao Loire, Clóvis, após ter destruído o reino romano de Siágrio (486), submeteu os Alamanos na batalha de Tolbiac (496) e tornou-se no chefe moral da Gália, devido ao seu batismo ou conversão em 496, onde conseguiu a simpatia e colaboração da Igreja romana no combate contra os outros povos germânicos, pagãos e heréticos. Convertido o rei, logo de imediato a sua corte e depois o povo, não tardaram também a abraçar o Cristianismo, numa altura em que o monaquismo entrava em França, graças a João Cassiano e depois aos Beneditinos ao longo dos séculos VI-VIII.
A vitória de Clóvis sobre os Visigodos, que foram remetidos para a Espanha na sequência da batalha de Vouillé (507), assegurou a expansão deste reino até ao Garona. Conseguiu a reunião dos Francos Sálios e Ripuários, sendo considerado o primeiro rei de França.
Após a sua morte, em 511, e segundo as tradições germânicas, o seu reino foi dividido entre os seus quatro filhos.
A BÍBLIA
Conjunto dos livros escritos por inspiração divina, pelos quais Deus se revela e dá a conhecer a Sua vontade. Divide-se em duas grandes secções: o Antigo Testamento (AT), que contém a revelação divina anterior ao nascimento de Jesus Cristo, e o Novo Testamento (NT), que inclui toda a revelação feita por Cristo, pelos Apóstolos, seus fiéis seguidores e por outros autores considerados sagrados.
O que é a Bíblia
A Bíblia é a linguagem humana da Palavra de Deus, que falou aos homens através de vários homens por Ele escolhidos mas principalmente por Jesus Cristo, tendo em conta vários condicionalismos: de tempo, de espaço, de raça e de cultura. Várias são as circunstâncias históricas que estão por detrás de cada um dos livros da Bíblia, fruto do tempo em que foram escritos; diversos foram também os ambientes e lugares em que se escreveram esses livros, da Palestina ao Império Romano, passando pelo mundo helénico; a origem dos autores é quase sempre semítica, de matriz judaica; de igual modo há condicionantes de natureza cultural, pois os autores provinham de vários tipos culturas e mentalidades por vezes muito diferenciadas, deixando sempre marcas da sua personalidade.
No AT, a Palavra divina foi revelada através da Tradição e da Sagrada Escritura, enquanto que no NT, há uma nova Revelação, agora feita por Cristo: o Evangelho, transmitido depois pelos Apóstolos, gerando a Tradição Apostólica. Com a fixação por escrito desta nova Tradição pelos Evangelistas, inspirados pelo Espírito Santo, surge a Sagrada Escritura do NT. Na inspiração divina que está na base da Sagrada Escritura radica a marca distintiva da Bíblia em relação aos outros livros humanos. Desde sempre, da Antiguidade Judaica até aos dias de hoje, passando pelos Santos Padres (dos primeiros séculos, não papas), se acredita que Deus é o autor da Sagrada Escritura, que se serviu do homem para que ela fosse escrita e se perpetuasse. Quanto à verdade da Bíblia, esta é progressiva no seu processo de leitura, estando em todo o conjunto de livros que a forma, e não num só, isoladamente.
Para se interpretar a Bíblia, isto é, para se conhecer o verdadeiro significado da totalidade dos seus livros, há que ter em linha de conta os seus vários géneros literários, fossem eles históricos, proféticos ou poéticos, e deve-se entendê-los conforme o foram pelos povos semitas ou helenistas no tempo em que foram redigidos. Vários são, tradicionalmente, os sentidos que se encontram na leitura da Bíblia: o literal, o pleno (significado mais profundo do texto), o típico (de natureza simbólica) ou o acomodatício (dar um sentido diferente às palavras em relação ao que o autor deu).
Mas quais são então os livros da Bíblia? Quer no AT quer no NT podem-se distinguir três tipos de livros: históricos, sapienciais e proféticos, de acordo com o género literário dominante, que pode ser narrativo (como os Quatro Evangelhos), epistolar (as Cartas) ou profético (como no Apocalipse de S. João, o livro que encerra a Bíblia).
O AT é a história da revelação de Deus ao povo de Israel, escrita e explicada nos livros judaicos da Arca da Aliança. O seu objetivo é eminentemente profético, o de anunciar a vinda do Messias e do seu Reino (messiânico) e preparar o povo de Israel para esse acontecimento redentor. Por dar a conhecer formas de vida, costumes e imagens de Deus menos concordantes com as que hoje se têm e as próprias práticas que a Tradição veiculou ao longo dos tempos, diz-se que o AT com as suas imperfeições evoluiu para o NT na busca da perfeição que atingiu após a vinda de Cristo. O AT é pois a raiz do AT e da própria religião cristã. Divide-se em quatro grandes grupos de livros: Penateuco, L. Históricos, L. Sapienciais e L. Proféticos. O NT divide-se em Evangelhos e Atos dos Apóstolos, Cartas (S. Paulo; aos Hebreus; Católicas, como as de Tiago, Pedro...) e Apocalipse. A lista dos livros do NT foi feita a partir de uma lista elaborada por Atanásio em 367, reagindo a uma lista redigida pelo herege Marcião. A Igreja, na pessoa do papa S. Dâmaso, aprovou em 382 a lista de Atanásio e considerou-a como cânone final, depois da opinião favorável de S. Jerónimo. No concílio de Cartago de 397 definiram-se os cânones dos dois Testamentos, inalteráveis até hoje.
A obra
Em termos de suporte material, a Bíblia começou por ser um conjunto de rolos obtidos a partir da prensagem de caules de papiro, como se fazia já para os escritos hebraicos antigos, conforme se pode constatar nos Manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran em 1947 e que datam de entre 250 a.C e 70 d.C. Quanto à sua história enquanto livro agrupando o Antigo e o Novo Testamento, sabe-se que entre os séculos III e II a.C., a Bíblia hebraica - dividida em Torah, ou Lei (o Pentateuco), e Profetas (Anteriores, como Josué) e Posteriores (como Isaías), mais ou menos correspondente ao AT - foi traduzida para grego. A versão mais conhecida destas traduções é a greco-alexandrina dos "Setenta", composta em Alexandria no século II a.C. por 72 tradutores. A Hexapla, de Orígenes (228-240 d.C.) foi outra versão grega famosa. A língua do AT é o hebraico, com algumas exceções em aramaico ou grego. O manuscrito desta tradução estava depositado em Cesaréia da Palestina, tendo sido consultado, por exemplo, por Eusébio e por S. Jerónimo. A ocupação muçulmana da região no século VI poderá ter feito desaparecer o manuscrito.
Em latim, uma das primeiras versões data de 150 d.C., chamada Vetus Latina ou Ítala, que foi muito recomendada por S. Agostinho. Os Salmos nesta versão foram mais tarde corrigidos por S. Jerónimo, entre 383 e 392, a pedido do papa S. Dâmaso, que os adotou para uso oficial na Igreja, como Saltério Romano. O mesmo S. Jerónimo, trabalhador incansável, exegeta notável e místico fervoroso, redigiu (cerca de 420) uma versão latina integral da Bíblia, chamada de Vulgata (ou Editio Vulgata), realizada a partir do original hebraico.
Foi um trabalho formidável que resultou numa tradução magistral de grande valor literário. Na Idade Média e Renascimento, muitos foram os Biblistas e exegetas que confirmaram a valia desta versão de S. Jerónimo, como Roger Bacon ou Erasmo de Roterdão.
O Concílio de Trento (1545-1563) aprovou mesmo esta versão como "autêntica".
A Vulgata serviu também de base às traduções para línguas "vulgares" feitas por heréticos, como Wycliff, ainda no século XIV. Mas houve ainda papas, como Sisto V ou Clemente VIII que mandaram fazer revisões da Vulgata sempre no intuito de recuperar o seu estilo primitivo, anterior portanto às sucessivas transcrições e reedições.
Recorde-se, por outro lado, que a traduções para "vulgar" existiram já antes dos movimentos contestatários dos séculos XIV-XVI. Por exemplo, atente-se na Bíblia de Ulfilas (séc. IV), bispo ariano da Germânia, que traduziu de grego para gótico as Sagradas Escrituras, de forma a ser entendida por inúmeros povos da Europa Central.
Das versões modernas da Bíblia, a mais famosa é a tradução para alemão de Lutero, feita em 1534, a partir do texto hebraico e grego revistos por Erasmo em 1516, quase nada usando a Vulgata. Lutero pretendia aproximar a Bíblia da maneira de sentir das pessoas do seu tempo, embora se deva referir que antes da sua versão protestante já existiam catorze traduções para alto-alemão e três para baixo-alemão. Entre as versões protestantes, cumpre referir uma outra, famosíssima: a Great Bible, mandada fazer por Henrique VIII, em Inglaterra, embora neste país se tenham feito algumas outras traduções.
Desde Trento que se fizeram também na Igreja católica traduções para línguas vulgares, como o português, adaptando-se as Sagradas Escrituras às novas sensibilidades e exigências em termos de capacidade de leitura e compreensão, pois os conteúdos e características teológicas mantêm-se imutáveis. Todavia, existe uma comissão pontifícia, subordinada diretamente ao Santo Padre, que tem como missão a revisão da Vulgata e a sua adequação constante à Tradição.
O GRANDE CISMA
Grande Cisma (1054)
 |
| Grande Cisma (1054) |
Cisma é uma palavra usada para designar a divisão formal e voluntária da unidade da Igreja cristã, que, ao contrário da heresia, com a qual muitas vezes é conotada, não contém em si mesmo um desvio doutrinal.
Na história da Igreja cristã, o Grande Cisma é uma expressão que se refere simultaneamente à rutura das relações entre as Igrejas cristãs do Oriente e do Ocidente datada de 1054.
Ao período compreendido entre 1378 e 1417, durante o qual dois e, mais tarde, três papas reclamavam a sua legitimidade na direção da Igreja, dá-se o nome de Cisma do Ocidente.
Todavia, errónea e abusivamente, alguns autores designam de Grande Cisma esta divisão da Igreja do Ocidente nos séculos XIV e XV.
Esta distanciação entre as duas Igrejas cristãs, no Grande Cisma, tem raízes culturais e políticas muito profundas, cultivadas ao longo de séculos. Enquanto a cultura ocidental se foi paulatinamente transformando pela influência de povos como os Germanos, o Oriente permaneceu desde sempre ligado à tradição da cristandade helenística. Era a chamada Igreja de tradição e rito grego.
A Igreja de Constantinopla respeitou a posição de Roma como a capital original do império, mas ressentia-se de algumas exigências jurisdicionais feitas pelos papas, reforçadas no pontificado de Leão IX (1048-1054) e depois no dos seus sucessores. Para além disso, existia a oposição do Ocidente em relação ao cesaropapismo bizantino, isto é, a subordinação da Igreja oriental a um chefe secular, como acontecia na Igreja de Bizâncio.
Quando Miguel Cerulário se tornou patriarca de Constantinopla, no ano de 1043, deu início a uma campanha contra as Igrejas latinas na cidade de Constantinopla, envolvendo-se na discussão teológica da natureza do Espírito Santo, questão que viria a assumir uma grande importância nos séculos seguintes.
Roma enviou o cardeal Humberto a Constantinopla em 1054, para tentar resolver este problema. No entanto, esta visita acabou do pior modo, com a excomunhão do patriarca, um ato entendido como a excomunhão de toda a Igreja bizantina e ao qual o Sínodo e Miguel Cerulário responderam do mesmo modo a Roma.
A deterioração das relações entre as duas Igrejas contribuiu largamente para o tristemente célebre episódio do saque de Constantinopla durante a quarta Cruzada (1204). As mútuas excomunhões só foram levantadas a 7 de dezembro de 1965, pelo Papa Paulo VI e o patriarca Atenágoras I, por forma a aproximar as duas Igrejas, afastadas há séculos.
A partir de 1054 o cristão bizantino passou a ser cismático aos "olhos" do Ocidente cristão, mas apesar das duas grandes diferenças (as duas igrejas discordavam quanto à questão do "Filioque" - o Espírito Santo para os bizantinos provinha do Pai e não do Filho - e quanto à questão institucional causada pela recusa da aceitação da supremacia do papa de Roma) não deixa de ser cristão e como tal considerado.
A falta de compreensão para com a Igreja bizantina transformou-se em ódio, fomentado "pela cobiça e pela inveja dos 'romanos', um povo bárbaro e incivilizado que via com maus olhos a riqueza dos 'gregos' civilizados", como nos diz Jacques le Goff em A Civilização do Ocidente Medieval.
Em 1203, quando os cruzados ocidentais se preparavam para tomar Constantinopla, a desculpa para esta ação era a de que o imperador Alexis I era um usurpador e que os bizantinos eram uns "cismáticos". Na Idade Média, todo o desvio ou desviante deveria ser punido, algo considerado óbvio e natural para o europeu daquele tempo.
A reconciliação de Roma e da antiga Bizâncio foi, no entanto, um assunto constantemente debatido do século XI ao século XV; houve, inclusivamente, inúmeras tentativas de reaproximação das duas Igrejas. Em 1089, Alexis I promoveu discussões, depois retomadas em 1141 com João II, em 1197 com Alexis III, e por quase todos os imperadores, de meados do século XIII até 1453, quando os turcos Otomanos, muçulmanos, tomaram Constantinopla. E por duas ocasiões esta questão pareceu estar resolvida: primeiro no concílio de Lyon, em 1274, e por fim no concílio de Florença, em 1439.
A hostilidade dos ocidentais em relação a Bizâncio impedia, contudo, a resolução pacífica deste contencioso, exemplificado nos ataques de Roberto Guiscardo, em 1081, e Boemundo, em 1185, dirigidos ao Império Romano Oriental e na brutal tomada de Constantinopla a 13 de abril de 1204, para além do fracasso das negociações para a unificação das duas Igrejas. Este mau relacionamento era motivado pela incompreensão das duas civilizações, que entre si se chamavam "latinos" e não cristãos, e "gregos" e não romanos.
Estava mais uma vez em confronto a civilização "bárbara" ocidental e a culta e sofisticada civilização oriental.
Esta oposição também tinha a ver com divergentes tradições políticas. Para os ocidentais, a primordial virtude é a boa fé, enquanto que para os bizantinos era a razão de Estado. Outra razão deste desentendimento era a riqueza dos bizantinos, que inspirava críticas por parte dos ocidentais, deslumbrados com uma opulência que não conheciam na Europa ocidental desse tempo.
A Constantinopla da época era uma cidade muito rica, produtora e/ou distribuidora de produtos luxuosos como os tecidos preciosos (a seda, por exemplo); além disso, as relações que mantinha com o mundo árabe faziam dela um dos principais mercados de onde vinha a moeda de ouro.
Esta inveja resultou no terrível e já citado saque de Constantinopla de 13 de abril de 1204, que provocou a pilhagem da cidade e o sacrifício de muitos dos seus habitantes que pereceram às mãos dos cristãos, ditos "bárbaros", da quarta Cruzada.
Na história da Igreja cristã, o Grande Cisma é uma expressão que se refere simultaneamente à rutura das relações entre as Igrejas cristãs do Oriente e do Ocidente datada de 1054.
Ao período compreendido entre 1378 e 1417, durante o qual dois e, mais tarde, três papas reclamavam a sua legitimidade na direção da Igreja, dá-se o nome de Cisma do Ocidente.
Todavia, errónea e abusivamente, alguns autores designam de Grande Cisma esta divisão da Igreja do Ocidente nos séculos XIV e XV.
Esta distanciação entre as duas Igrejas cristãs, no Grande Cisma, tem raízes culturais e políticas muito profundas, cultivadas ao longo de séculos. Enquanto a cultura ocidental se foi paulatinamente transformando pela influência de povos como os Germanos, o Oriente permaneceu desde sempre ligado à tradição da cristandade helenística. Era a chamada Igreja de tradição e rito grego.
A Igreja de Constantinopla respeitou a posição de Roma como a capital original do império, mas ressentia-se de algumas exigências jurisdicionais feitas pelos papas, reforçadas no pontificado de Leão IX (1048-1054) e depois no dos seus sucessores. Para além disso, existia a oposição do Ocidente em relação ao cesaropapismo bizantino, isto é, a subordinação da Igreja oriental a um chefe secular, como acontecia na Igreja de Bizâncio.
Quando Miguel Cerulário se tornou patriarca de Constantinopla, no ano de 1043, deu início a uma campanha contra as Igrejas latinas na cidade de Constantinopla, envolvendo-se na discussão teológica da natureza do Espírito Santo, questão que viria a assumir uma grande importância nos séculos seguintes.
Roma enviou o cardeal Humberto a Constantinopla em 1054, para tentar resolver este problema. No entanto, esta visita acabou do pior modo, com a excomunhão do patriarca, um ato entendido como a excomunhão de toda a Igreja bizantina e ao qual o Sínodo e Miguel Cerulário responderam do mesmo modo a Roma.
A deterioração das relações entre as duas Igrejas contribuiu largamente para o tristemente célebre episódio do saque de Constantinopla durante a quarta Cruzada (1204). As mútuas excomunhões só foram levantadas a 7 de dezembro de 1965, pelo Papa Paulo VI e o patriarca Atenágoras I, por forma a aproximar as duas Igrejas, afastadas há séculos.
A partir de 1054 o cristão bizantino passou a ser cismático aos "olhos" do Ocidente cristão, mas apesar das duas grandes diferenças (as duas igrejas discordavam quanto à questão do "Filioque" - o Espírito Santo para os bizantinos provinha do Pai e não do Filho - e quanto à questão institucional causada pela recusa da aceitação da supremacia do papa de Roma) não deixa de ser cristão e como tal considerado.
A falta de compreensão para com a Igreja bizantina transformou-se em ódio, fomentado "pela cobiça e pela inveja dos 'romanos', um povo bárbaro e incivilizado que via com maus olhos a riqueza dos 'gregos' civilizados", como nos diz Jacques le Goff em A Civilização do Ocidente Medieval.
Em 1203, quando os cruzados ocidentais se preparavam para tomar Constantinopla, a desculpa para esta ação era a de que o imperador Alexis I era um usurpador e que os bizantinos eram uns "cismáticos". Na Idade Média, todo o desvio ou desviante deveria ser punido, algo considerado óbvio e natural para o europeu daquele tempo.
A reconciliação de Roma e da antiga Bizâncio foi, no entanto, um assunto constantemente debatido do século XI ao século XV; houve, inclusivamente, inúmeras tentativas de reaproximação das duas Igrejas. Em 1089, Alexis I promoveu discussões, depois retomadas em 1141 com João II, em 1197 com Alexis III, e por quase todos os imperadores, de meados do século XIII até 1453, quando os turcos Otomanos, muçulmanos, tomaram Constantinopla. E por duas ocasiões esta questão pareceu estar resolvida: primeiro no concílio de Lyon, em 1274, e por fim no concílio de Florença, em 1439.
A hostilidade dos ocidentais em relação a Bizâncio impedia, contudo, a resolução pacífica deste contencioso, exemplificado nos ataques de Roberto Guiscardo, em 1081, e Boemundo, em 1185, dirigidos ao Império Romano Oriental e na brutal tomada de Constantinopla a 13 de abril de 1204, para além do fracasso das negociações para a unificação das duas Igrejas. Este mau relacionamento era motivado pela incompreensão das duas civilizações, que entre si se chamavam "latinos" e não cristãos, e "gregos" e não romanos.
Estava mais uma vez em confronto a civilização "bárbara" ocidental e a culta e sofisticada civilização oriental.
Esta oposição também tinha a ver com divergentes tradições políticas. Para os ocidentais, a primordial virtude é a boa fé, enquanto que para os bizantinos era a razão de Estado. Outra razão deste desentendimento era a riqueza dos bizantinos, que inspirava críticas por parte dos ocidentais, deslumbrados com uma opulência que não conheciam na Europa ocidental desse tempo.
A Constantinopla da época era uma cidade muito rica, produtora e/ou distribuidora de produtos luxuosos como os tecidos preciosos (a seda, por exemplo); além disso, as relações que mantinha com o mundo árabe faziam dela um dos principais mercados de onde vinha a moeda de ouro.
Esta inveja resultou no terrível e já citado saque de Constantinopla de 13 de abril de 1204, que provocou a pilhagem da cidade e o sacrifício de muitos dos seus habitantes que pereceram às mãos dos cristãos, ditos "bárbaros", da quarta Cruzada.
Subscrever:
Comentários (Atom)